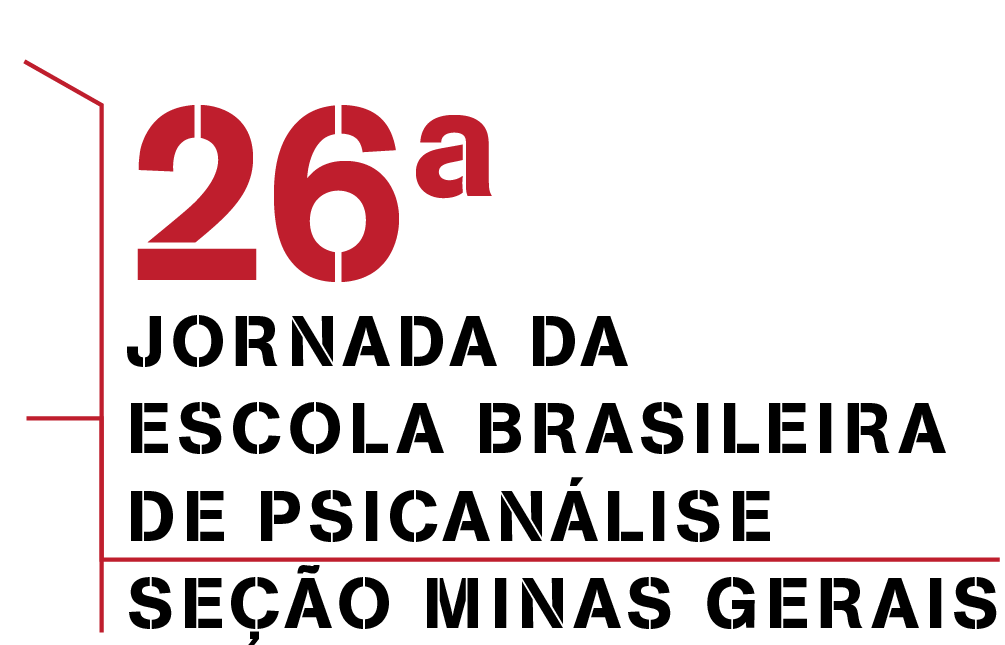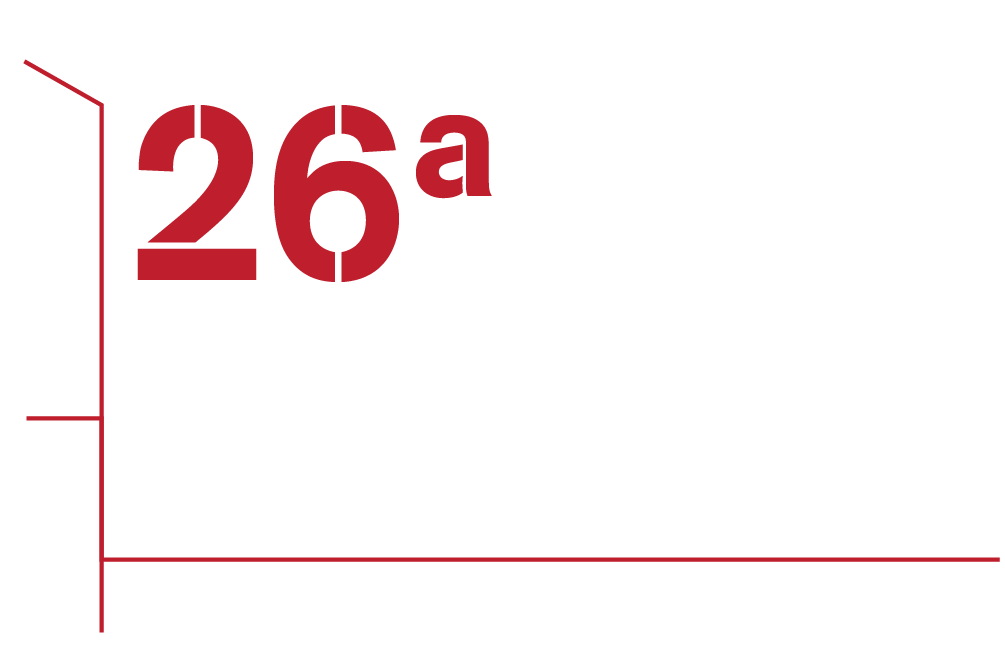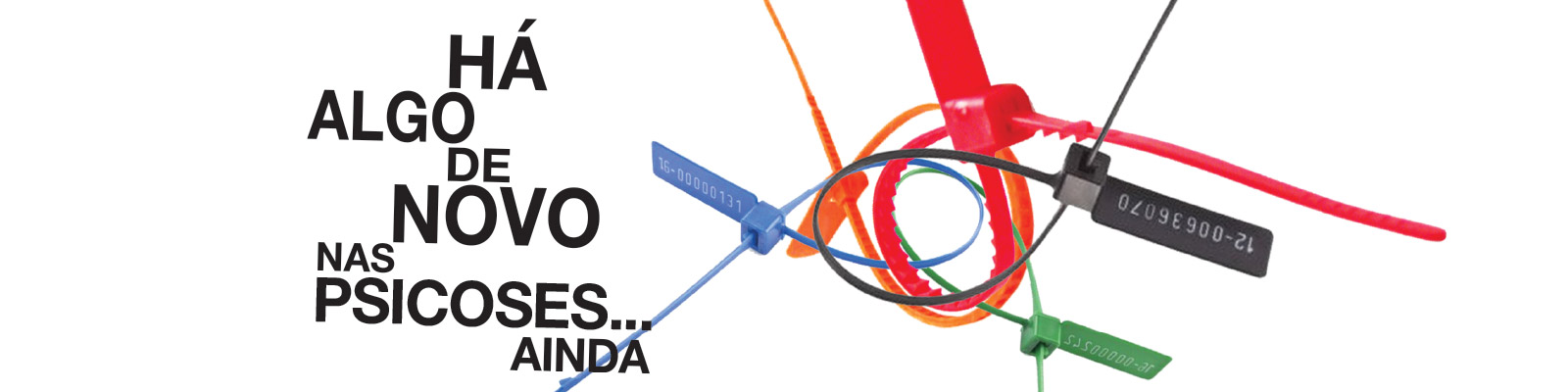Texto de orientação
EIXO 2: Diagnosticar e despatologizar [1]
por Elisa Alvarenga
Marco epistemológico
1- A ampliação do conceito de psicose não se confunde com a generalização da nossa loucura ordinária. A primeira ocorre no âmbito de um debate sobre o inclassificável da clínica psicanalítica, notadamente a partir do caso de Joyce, mediante uma decisão de natureza epistêmica que alarga o entendimento sobre as psicoses. Corresponde, portanto, a um refinamento da clínica das psicoses a partir de seus signos mais discretos e da função do sinthoma. A segunda pertence ao campo da doxa psicanalítica, concernindo ao uso da linguagem no âmbito do grande debate filosófico em torno das fronteiras entre o sentido e o fora de sentido no século XX e da inexistência da metalinguagem.
Levando-se em conta essa distinção, não podemos deduzir do aforismo “todo mundo é louco” nenhuma patologização ou despatologização generalizada. Mas podemos extrair do mesmo duas proposições: a primeira afirma que todo discurso normativo é delirante, incluindo o que se apoia no Nome-do-Pai; a segunda, que se deduz da primeira, afirma que todo falasser inventa à sua maneira uma forma singular e única de dar consistência ao que não tem consistência e de remendar o que se apresenta como o verdadeiro furo, S(Ⱥ).
Em contrapartida, se tomamos em consideração o campo clínico, com suas distinções, classificações típicas e gradações, somos forçados a sustentar que as diversas soluções sintomáticas não funcionam da mesma forma e que algumas delas deixam o falasser à deriva, com a consequente necessidade de ajustes, flexibilizações, reparos e variações possíveis em cada caso.
Somos, assim, remetidos a questões pragmáticas quanto à efetividade do “sentimento de vida”, ou seja, àquilo que uma amarração sintomática é capaz de “ordenar”, fazer funcionar, atar, remediar, cernir. Se postulamos, com o aforismo “todo mundo é louco”, a unidade fundamental do falasser, é em razão da desordem mais íntima, do pathos fundamental do troumatisme que exige de cada um, a partir de sua lalíngua e antes mesmo de se decidir quanto ao recurso ou não aos discursos estabelecidos, uma resposta sintomática.
A questão seria, então, saber o que mantém junto o que por si só se encontra separado, o que define o mistério do falasser. Pensar a partir do paradigma dos nós, ou seja, da ideia de arranjo e de junção, implica abordar o diagnóstico em função da finitude das formas de amarrações e da eficácia em manter juntos o Real, o Simbólico e o Imaginário. A noção de estrutura permanece tributária da ideia de falha, erro e lapso, determinando grupos ou classes de sintomas a partir das formas de amarração e traçado dos nós, que podem funcionar ou não, se manter ou não, ser ao mesmo tempo uma solução e um impasse.
2- Pode-se pensar a relação entre diagnosticar e despatologizar como um mesmo e único ato que, ao isolar uma dada solução sintomática, a despatologiza, conferindo-lhe um caráter único e não referido a uma norma, embora possamos reconhecer eventuais semelhanças entre as diferentes soluções.
A herança da clínica psiquiátrica, da qual historicamente nos servimos, parece pesar hoje sobre nossas costas. Seria preciso, então, inventar uma outra terminologia, livre da conotação patológica do ato de diagnosticar? Em que medida o paradigma dos nós permitiria esse avanço e essa liberação?
Isso nos leva a distinguir, a partir das formulações de A Conversação de Arcachon (MILLER, 1997, p. 184-187), a clínica da conexão e a clínica da substituição, na esteira do par metonímia/metáfora. “Quando a causa está ausente, os efeitos dançam” (LACAN, 1964/1985, p. 124). Essa frase de Lacan no Seminário 11 foi evocada por Miller, nessa Conversação, para distinguir a metonímia desejante, ligada à falta-a-ser na neurose e ao pathos que ela envolve, da metonímia da falta forclusiva, que é um deserto. A ideia é que a estrutura é uma forma de conectar elementos dispersos para dar-lhes uma função. Mas a estrutura também comporta a possibilidade de substituição, de forma que um elemento possa fazer a função de um outro se estiver ocupando o seu lugar na estrutura, mesmo quando esse elemento é uma falta, como é o caso da forclusão do Nome-do-Pai. Diagnosticar é discernir a estrutura; concerne, portanto, à função da causa, na medida em que “só existe causa para o que manca” (LACAN, 1964/1985, p. 27).
3- A psicanálise seria uma prática anti-diagnóstica se tomasse o sujeito como um inclassificável. A psicose ordinária seria o paradigma desta prática, se não houvesse ocorrido a intervenção de Miller para sugerir que uma amarração sinthomática que não corresponde ao modo standard de amarração RSI, seria de fato uma psicose, uma psicose ordinária.
Dizer, por outro lado, que o Nome-do-Pai é uma amarração standard do nó, equivale a dizer que essa amarração é também sinthomática, isto é, uma forma singular, por contar com a ajuda de um remendo: como o amor pelo pai na histeria, a recomposição do pai na religião, o apego à lei e à ordem na neurose obsessiva, o sintoma fóbico e todas as maneiras de compensar as carências do nome-do-pai e se defender do real.
Diagnosticar, em sentido psicanalítico, é uma arte; implica um corte em relação à patologia compreendida a partir de uma classificação de sintomas, a fim de ressaltar o modo de funcionamento singular de um falasser. Sendo assim, poderíamos pensar o trabalho analítico como uma modulação que compreende três tempos:
- a) – momento nominalista: marcado pelo acolhimento de um falasser como inclassificável por excelência, conforme a orientação freudiana de tomar cada caso como um caso, momento em que as peças são dispostas no tabuleiro conforme sua historização e que antecede à sua referenciação a tipos de sintomas;
b)- momento realista: aquele em que os elementos dispersos são referenciados à estrutura, mas que também considera aquilo que, em relação às estruturas típicas, são as variantes funcionais ou disfuncionais que permanecem à parte de uma determinada classe de sintomas;
- c) – momento do savoir-y-faire de um falasser com o seu incurável, o que resta como irredutível de um sujeito além do seu próprio caso, limite entre a clínica psicanalítica e o real. Teríamos, então, para além do momento nominalista do caso único e do momento realista da estrutura, o momento pragmático e pós-clínico do savoir-y-faire com o resto sintomático.
Tentaremos, então, verificar a operatividade deste marco epistemológico nos servindo de algumas vinhetas clínicas.
Super-herói dentro da lei
“O mundo instituído indica a cada um que ele tem o direito de ser louco, sob a condição de permanecer louco separadamente. A loucura começaria caso se quisesse impor sua loucura privada ao conjunto de sujeitos, constituídos, cada um deles, numa espécie de nomadismo” (LACAN, 1956-1957/1995, p. 129). Percorrendo o termo loucura na obra de Lacan, buscamos pensar a questão já colocada em nosso meio: “quando se está louco?” Alguém deixa de estar louco?
Lacan, no Seminário 3, faz equivaler loucura e psicose, partindo de que na psicose o inconsciente está à superfície. O desencadeamento ocorre quando o sujeito ignora a língua que fala, fazendo aparecer o real. É o momento em que toda a referenciação temporal desaparece, porém, “para ser louco, é necessária alguma predisposição, se não alguma condição” […] “não se torna louco quem quer” (LACAN, 1955-1956/1985, p. 23-24). Entretanto, adverte que delirar não é exclusivo da psicose, não havendo, para ele, discurso de loucura mais manifesto e mais sensível que o dos psiquiatras e precisamente acerca da paranoia. Para Lacan, o que resiste à loucura é o desejo, ou seja, a manutenção do desejo sustenta o sujeito dividido e “quando ele não é mais um sujeito dividido, é louco” (LACAN, 1957-1958/1999, p. 443).
Após uma separação amorosa traumática em que se vê completamente só, Gaston vale-se de sua função de sentinela para realizar uma cena na qual, frente a uma intimidação, busca se proteger. Neste ato, torna-se ameaçador aos que estão à sua volta. Vai preso, é considerado inimputável e recebe uma medida de segurança. Ao ser atendido como louco infrator considera sua história incompreendida, mostra-se identificado ao seu ato e inicia um consumo intenso de drogas.
Gaston é um artista e provoca simpatia. Após um curto período em acompanhamento, sua arte é reconhecida e ele passa a participar de atividades culturais na cidade promovidas pela rede. Depois de um período de abandono em relação ao corpo começa a se cuidar. Deixa de ser louco. Reduz o uso da droga.
Ram Mandil pergunta se os sintomas contemporâneos poderiam ser modos de recompor uma consistência – mental – do corpo (MANDIL, 2023). Gaston, em um primeiro tempo, diante de uma constatação de inconsistência, tenta uma saída pouco sustentável através de sua criação como super-herói; em um segundo momento, a partir do encontro com uma analista no campo da lei, pode se endereçar ao outro com sua singularidade e se estabilizar, passando a se organizar com os elementos e ferramentas que tem. Sua arte como parte de sua solução permite a entrada na estrutura do mundo, de um outro modo.
Como nota Lacan, há a possibilidade do nó borromeano se reconstituir (LACAN, 1975-1976/2007, p. 151), cada um a seu modo, diferente de como se era antes. O diagnóstico, orientador, permite o manejo necessário na condução do tratamento. Sua interdição é suspensa, sua palavra é autorizada. O laço de responsabilização construído junto à lei, sob transferência, possibilita a correção do nó. O diagnóstico, na medida que deixa de recair sobre o sujeito como uma condenação perpétua, o despatologiza.
Temos então, primeiro momento: “super-herói”, segundo momento: louco infrator, terceiro momento: saber fazer aí com a lei e sua arte.
Somos todos normais e realistas
Somos hoje testemunhas de um movimento de apagamento da clínica, se considerarmos este conceito no sentido de escutar o que o sujeito tem a dizer sobre seu sintoma. Em seu lugar, vemos avançar um projeto que faz equivaler todo e qualquer sofrimento psíquico a distúrbios ligados ao neurodesenvolvimento, a falhas na “maturação do sistema nervoso interagindo com uma grande variedade de fatores externos, mesmo antes do nascimento” (CUTHBERT, 2021, p. 84, apud LA SAGNA, 2022, p. 53).
Nesse universo pautado pelo cientificismo, não há trauma oriundo do choque da linguagem sobre o corpo, nem lalíngua, nem sintoma, fazendo desaparecer, como destaca La Sagna, qualquer possibilidade de uma “descontinuidade no real onde um sujeito do transtorno poderia entrar sorrateiramente” (LA SAGNA, 2022, p. 53). Esse modo de despatologização selvagem, como o designou Francesca Biagi-Chai, desconsidera “a possibilidade de um sujeito se colocar a questão de sua própria divisão, de seu próprio mal-estar, de uma interrogação, de uma sutileza” (BIAGI-CHAI, 2022, p. 30-31).
Sob a égide do discurso das neurociências, podemos conjecturar a crença em um modo de funcionamento de um “cérebro ideal, homeostático, regulado”, como observa Ansermet. Contudo, “como um tal cérebro tão regulado pode produzir um humano tão desregulado? […] O homem desregulado reaparece no registro das patologias, cada vez mais ampliadas, frequentes, chegando até a patologização da condição humana” (ANSERMET, 2019).
A mãe de Samuel, hoje com 8 anos, procura atendimento para seu filho a pedido da escola. Decidiu trazê-lo ao ouvir a coordenadora dizer que Samuel tem se mostrado mais arredio com os colegas, preferindo ficar sozinho, isolado. Cabe ressaltar que pedidos de avaliação psicológica já haviam sido feitos anteriormente em outras escolas em que a preocupação era com a intensa agitação do corpo desse menino. Tocada por essa mudança do significante que o apresentava, de agitado para isolado, a mãe decide buscar ajuda. Ela justifica: “todos são agitados na minha casa, é uma característica da família: somos todos muito dinâmicos!”
No primeiro encontro com a analista, o menino pede para desenhar e se detém em um desenho sobre o qual diz que se trata da garagem de um prédio onde há um porteiro que não vê o que a câmera do prédio vê: uma sombra que se esgueira pelo muro esfaqueia e esquarteja alguém, deixando um rastro de pedaços de corpo e muito sangue. Sobre um outro desenho Samuel conta que fez um ser parasita, uma espécie de molusco que entra nos corpos das pessoas transformando-as em monstros, que morrem junto com o parasita.
Tempos mais tarde, Samuel se queixa que sempre é repreendido na escola por não conseguir ficar parado e, pela primeira vez, se pergunta o porquê. Essa pergunta o leva a falar de um colega que usa cadeira de rodas, “o fofinho” do colégio, que nunca é repreendido, mesmo sendo o responsável por coisas erradas pelas quais o acusam. Ele localiza nesse colega o rival especular, tomando-o como um intruso que não deveria estar em sua escola por ser uma criança doente.
Em outra sessão esse colega reaparece e Samuel declara que já sabe o que acontece com esse menino: haveria dentro de seu corpo um ET que faz com que ele se agite. Ele pergunta à analista o que ela acharia se ele construísse um projeto pedagógico para ajudar esse colega a se sentir melhor na escola. Ambos passam várias sessões fazendo e refazendo programas de aula em que as matérias têm que ser dadas aos poucos, esclarece Samuel, de acordo com o que o colega conseguiria fazer. Contudo, ao comentar na escola o que fazia em suas sessões em prol desse menino, a professora teria respondido que ele não deveria se preocupar com isso, o que o leva a interromper seu “projeto” trazendo de volta as suas ideias persecutórias em relação ao colega.
Passado algum tempo, a criança desenha o Bart, filho dos Simpson e sobre ele comenta que esse personagem faz coisas que uma criança não deveria fazer. Por fim, conclui que todo mundo tem algo, como o Bart, um lado normal e outro realista. O realista, explica, é aquele que faz coisas estranhas para uma criança. A analista lhe diz que ele estava ali para conseguir encontrar um jeito de lidar de outro modo com as suas coisas realistas e com as coisas realistas dos outros.
No caso de Samuel temos, no primeiro momento, o isolado. No segundo momento, um diagnóstico de estrutura e um tratamento do outro. No terceiro momento, trata-se de encontrar um modo, ainda precário, de lidar com suas coisas “realistas”.
O pathos da língua e o poder das palavras
Sabemos ser possível afetar alguém através de um dizer, na medida em que a submissão à língua é uma paixão universal do ser falante. Mas no caso da poesia, exclama Leminski (LEMINSKI, 2009), é como se o poeta se vingasse dessa submissão no movimento em que busca ferir a língua, ao introduzir, no interior do que se diz, o enigma do “como será que eu vou dizer?” Sendo a língua um campo de códigos regrados, o poeta desestabiliza o sentido funcional de seu uso correto para extrair justamente do seu desajuste uma possibilidade de criação. Em vez de tomar as palavras como meio transparente para significar as coisas do mundo, ele se volta para elas, na espessura de sua materialidade fonética, tratando as próprias palavras como coisas do mundo. Seu olhar não atravessa os signos do mundo, mas neles se estanca, os contempla e os transforma como quem molda uma peça de argila. É fundamental, nesse sentido, perceber que essa paixão ativa do poeta, capaz de transformar a língua do Outro, somente se efetua ao fazer vibrar, sob o sistema regrado da língua, a dimensão pulsional de lalíngua. Ela implica fazer ressoar lalíngua como categoria com a qual Lacan situa o depósito do gozo significante que para cada um se inscreve, em seu encontro original com a língua, na experiência infantil não regrada da lalação.
“Joyce era louco?” – Sobre a generalização da loucura
Ao afirmar que “Todo mundo é louco (isto é delirante)” em 1978 (LACAN, 1978/2010, p. 31), Lacan estabelece uma sinonímia entre os termos ‘delirante’ e ‘louco’. Se language is use, o uso do termo ‘delírio’ associando-o à loucura e não à psicose não nos passa desapercebido. Esse novo uso traz consigo uma generalização da loucura, “todo mundo é…”.
Com o Lacan de 1978, deixamos de lado o termo clássico ‘psicose’, o qual dá à loucura seu estatuto de entidade clínica classificável e classificatória, para observar que Lacan se serviu do termo “loucura” algumas vezes. Lemos, entre outros: em 1946 – “Não fica louco quem quer.” “O ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura” (LACAN, 1946/1998, p. 177); em 1973 – “Assim, o universal do que elas desejam é a loucura, todas as mulheres são loucas, como se diz. É por isso mesmo que não são todas, isto é, não-loucas-de-todo, mas antes conciliadoras, a ponto de não haver limites para as concessões que cada uma faz a um homem: de seu corpo, de sua alma, de seus bens” (LACAN, 1973/2003, p. 538) e, ainda, em 1975 – “Joyce era (estava) louco?” “… a partir de quando se é (está) louco?” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 75).
Interessa-nos seguir com Lacan “a pista de Joyce” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 81), pista que ele extrai das “Cartas de amor a Nora Barnacle” (JOYCE, 1992). O que esses recortes nos dizem sobre a generalização do delírio e da loucura? Lacan observa que, embora tenha dito que não há relação sexual, entre Joyce e Nora há relação sexual e “bem esquisita”. Nesse caso, “a luva virada ao avesso é Nora. É o jeito de se considerar que ela lhe cai como uma luva”. Embora ele não a enluve senão com repugnância, não basta que ela lhe caia como uma luva, é preciso “que ela o cerre como uma luva” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 82).
A dimensão geométrica da luva invertida corresponde a um querer introduzir-se no corpo de Nora, dar-lhe a volta, embrulhar-se nele, conhecer como lhe caem os excrementos. Ao determinar desde a vestimenta até a alimentação, ele busca esculpir A Mulher, ser-lhe o dono do corpo e do espírito. Embora a deprecie, ele tem uma dependência absoluta em relação a ela, a quem diz dever tudo (ROSA, 2017). Clinicamente, os sujeitos que se ajeitam com A Mulher, encontram no lugar da divisão entre a prostituta e a santa, A Mulher Única. Curados pelo amor, sem que tenha havido um trabalho subjetivo, eles restam na dependência absoluta do amor deste Outro providencial (HARARI, 2002, p. 163-168).
Para Lacan, o sintoma central da análise é a constatação da existência de um exilio na relação entre os sexos; diante da expectativa de adequação, sob transferência, o sujeito depara com um “não há”. Ao seguir, com Lacan, a pista das Cartas de Joyce a Nora, observamos que não há aí a suposição de um saber ao sintoma Nora. Devido à não recepção endividante da herança paterna, ela lhe cai como uma luva e isso o inscreve em uma tradição de escritores, Yeats e Pound entre outros, que veneram A Mulher (THONIS, 1992).
Enfim, se a ação forclusiva não incide sobre o significante d’A Mulher, se o falasser sustenta uma crença na existência d’A Mulher, o delírio e a loucura se generalizariam? Parece-nos que não. Assim, uma resposta plausível à pergunta feita por Lacan talvez seja:
– “Joyce era (estava) louco?” –
– Sim, ele era (estava) louco por Nora!
Diagnosticar e despatologizar pelo não todo
Para concluir, retomemos algumas possibilidades de despatologização com as quais nos deparamos. A primeira delas seria operada pela própria sociedade pela via da identificação a um S1 que assegura ao sujeito o pertencimento a um grupo identitário ou a um estilo de vida que reivindica seus direitos. Servem-se dessa estratégia despatologizante, por exemplo, os trans, os autistas, os “escutadores de vozes” e várias outras nomeações que asseguram ao sujeito uma dignidade aliada ao seu diagnóstico – o “orgulho autista”, por exemplo – ou direitos na esfera jurídica outorgados ao seu grupo social ou estilo de vida.
A segunda forma de despatologização, no campo das psicoses que nos concerne aqui, seria a via do trabalho da própria psicose ou do sujeito psicótico através do seu sinthoma. Joyce seria o paradigma mais exemplar dessa forma, em que o ego construído através da escrita faz suplência à ausência de inscrição do Nome-do-Pai como forma de amarração borromeana.
A terceira forma de despatologização, que nos interessa particularmente aqui, é aquela que se dá sob transferência, na clínica psicanalítica de orientação lacaniana. Alguns casos evocados em nosso relatório como vinhetas clínicas nos permitem demonstrar essa maneira de se virar com o sintoma, na qual diagnosticar e despatologizar caminham de mãos dadas.
Sérgio Laia, no seu texto “Por que as psicoses … ainda?” (LAIA, 2023), abre-nos uma via de investigação ao perguntar se não poderíamos fazer valer o não-todo fálico como uma espécie de orientação para os pacientes psicóticos desnorteados pela ausência do Nome-do-Pai e do falo simbólico ou significação fálica em suas vidas. E propõe que a função fônica do falo (LACAN, 1975-1976/2007, p. 123), evocada por Lacan no Seminário 23, assim como o poder fálico da fala (LACAN, 1971-1972/2012, p. 67-68), evocado no Seminário 19, teriam um amplo alcance na experiência analítica com sujeitos psicóticos, cujo dizer, quando escutado e acompanhado por um analista, pode fazer vacilar sua certeza delirante, permitindo-lhe confrontar-se com o furo forclusivo de outra forma.
O exemplo que gostaria de trazer para concluir releva de uma ficção que nos foi apontada por Sérgio de Mattos no livro de Fabián Schejtman, Philip Dick con Jacques Lacan – Clínica psicoanalítica como ciencia ficción (SCHEJTMAN, 2018), no qual nosso colega da EOL relata, de maneira ficcional, dois encontros desse brilhante escritor de ficção científica com o psicanalista francês. Encontramos rastros desses encontros, assim como possíveis vestígios deles no Seminário de Lacan O objeto da psicanálise, no relato de Samuel Fergusson, que evoca uma entrevista da filha de P. Dick, Isa Dick Hackett, no capítulo “Encuentros” do livro de Schejtman.
O primeiro encontro teria acontecido em Chicago, onde Lacan realizava uma conferência na universidade na qual se encontrava Philip Dick, em 1966. Dick teria ficado tão impactado pela fala do psicanalista que o procurou ao final para uma conversa que lhe deixou marcas. O segundo encontro teria acontecido em Lille, onde Lacan participava das Jornadas da Escola Freudiana de Paris, em 1977, após uma conferência de Philip Dick em Metz.
Sempre interrogado pelo estatuto da realidade na qual vivemos – atestado pelos filmes baseados em suas obras, como Blade Runner, Minority Report e Show de Truman – Philip Dick havia encontrado uma explicação delirante para a realidade, mas estava embaraçado pela transmissão de sua descoberta. Na conferência de Lacan em Lille, teria escutado com especial atenção Lacan dizer: “não todos podem sabê-lo, só alguns poucos eleitos distinguem a realidade do real”. Ele teria então relatado a Lacan que, em fevereiro de 74, uma jovem bateu à sua porta e, ao ver seu pendente com o signo de peixes, símbolo do primeiro cristianismo, foi invadido por uma luz, um brilho e uma energia, uma inteligência infinita, que se impuseram a ele tornando-o seu escriba. “VALIS, Vast Active Living Intelligence System, energia plasmática que invade o cérebro humano como hóspede feminino”, o toma, e ele deve consentir.
“Talvez não seja obrigatório”, teria respondido Lacan. Dick conta a Lacan as revelações sobre o império romano ainda presente sob a realidade corrente, das quais falara em Metz. “Não lhe conto tudo”, teria dito Philip. “Sim, não tudo! – responde Lacan. Você não é obrigado a submeter-se a VALIS, você é que escolhe receber a informação, e sobretudo, até quando. Você pode dizer basta. O feminino esteve ali desde o início e há também a feminização do homoplasma”.
Aprendemos, na biografia de Philip Dick (CARRÈRE, 2016, p. 336-339), que a revelação de seu delírio, em Metz, deixou sua audiência estarrecida e o próprio Dick bastante abalado, mas após o retorno aos Estados Unidos, Dick se apaziguou e pôde estabelecer uma relação mais pacificada com as mulheres, focando na escrita de sua Exegese. Ele frequentava semanalmente um psicoterapeuta, e veio a falecer em 1982 de um ataque cardíaco. Na ficção de Fabián Schejtman o psicanalista segue o sujeito, delirante, e faz vacilar suas convicções, sem retirar-lhe o delírio por completo, porém descompletando ou inconsistindo o Outro do delírio.
Mas podemos falar de não-todo na clínica das psicoses? Não se trata de fazer valer a significação fálica como efeito da metáfora paterna, porque por definição o Nome-do-Pai não opera. Trata-se de fazer valer o efeito da fala, introduzindo alguma medida no gozo sem limites e na significação sem ponto de basta. Ou seja, trata-se de fazer valer o furo da não-relação sexual ou a inexistência d’A mulher por outros artifícios que não o Nome-do-Pai, promovendo o apaziguamento de um gozo que antes se impunha como obrigatório e infinito.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
MILLER, J.-A. Os casos raros, inclassificáveis, da clínica psicanalítica. São Paulo: Biblioteca Freudiana Brasileira, 1997.
LACAN, J. O Seminário, livro 4, A relação de objeto. (1956-1957) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
LACAN, J. O Seminário, livro 3, As psicoses. (1955-1956) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
LACAN, J. O Seminário, livro 5, As formações do inconsciente. (1957-1958) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
LACAN, J. O Seminário, livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. (1964) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
LACAN, J. O Seminário, livro 19, … ou pior. (1971-1972) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro, Zahar, 2012.
LACAN, J. O Seminário, livro 23, O sinthoma. (1975-1976) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
LACAN, J. Lacan a favor de Vincennes! (1978) Correio, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise n. 65. São Paulo: EBP, abril de 2010.
LACAN, J. Formulações sobre a causalidade psíquica (1946). Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
LACAN, J. Televisão (1973). Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
MANDIL,R. O mundo rumo à psicose. Disponível em: https://www.jornadaebpmg.com.br/2023/orientacao/
CUTHBERT, 2021, p. 84, apud LA SAGNA, Ph. Dépathologiser ou démédicaliser: la forclusion du symptôme. Quarto n. 131. Bruxelles: ECF, Juin 2022.
BIAGI-CHAI, F. La dépathologisation lacanienne et l’autre, Quarto n. 131. Bruxelles: ECF, Juin 2022.
ANSERMET, F. O vivo incomensurável: entre ciência e inconsciente. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682019000300027
ALVARENGA, E. https://www.jornadaebpmg.com.br/2023/grampos-citacao/
LEMINSKI, P. https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/80136.pdf
LAIA, S. “Por que as psicoses…ainda”. https://www.jornadaebpmg.com.br/2023/textos/por-que-as-psicoses-ainda/
LAURENT, E. Disrupção do gozo nas loucuras sob transferência. Opção Lacaniana, Revista Internacional Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n.79, julho de 2018, p. 52-63.
JOYCE, J. Cartas de amor a Nora Barnacle. 1992. Disponível em www.elaleph.com. Acesso em: jun. 2023.
ROSA, M. “Se ela lhe cair como uma luva, o delírio não se generaliza”. In: Derivas. Revista Digital de Psicanálise e Cultura da Escola Brasileira de Psicanálise-MG, n. 6, junho 2017. www.revistaderivasanaliticas.com.br. Acesso em junho de 2023.
HARARI, R. Como se chama James Joyce? A partir do seminário Le Sinthome de J. Lacan. Salvador: Ágalma, Rio de Janeiro: Campo Matêmico, 2002.THONIS, L. “Prólogo”. In: Joyce, J. Cartas de amor a Nora Bernacle. 1992. www.elaleph.com. Acesso em junho de 2023.
SCHEJTMAN, F. Philip Dick con Jacques Lacan. Clínica psicoanalítica como ciencia ficción. Buenos Aires, Grama, 2018. Versão Kindle.
CARRÈRE, E. Eu estou vivo e vocês estão mortos. A vida de Philip K. Dick. São Paulo, Aleph, 2016.
[1] Relatório do cartel composto por: Antônio Teixeira (Membro da EBP e da AMP), Bruna Albuquerque (Cartelizante da EBP), Frederico Feu (Membro da EBP e da AMP), Márcia Rosa (Membro da EBP e da AMP), Miguel Antunes (Cartelizante da EBP), Mônica Campos (Membro da EBP e da AMP), Patrícia Ribeiro (Membro da EBP e da AMP) e Elisa Alvarenga (AME da EBP e da AMP) (+ Um)