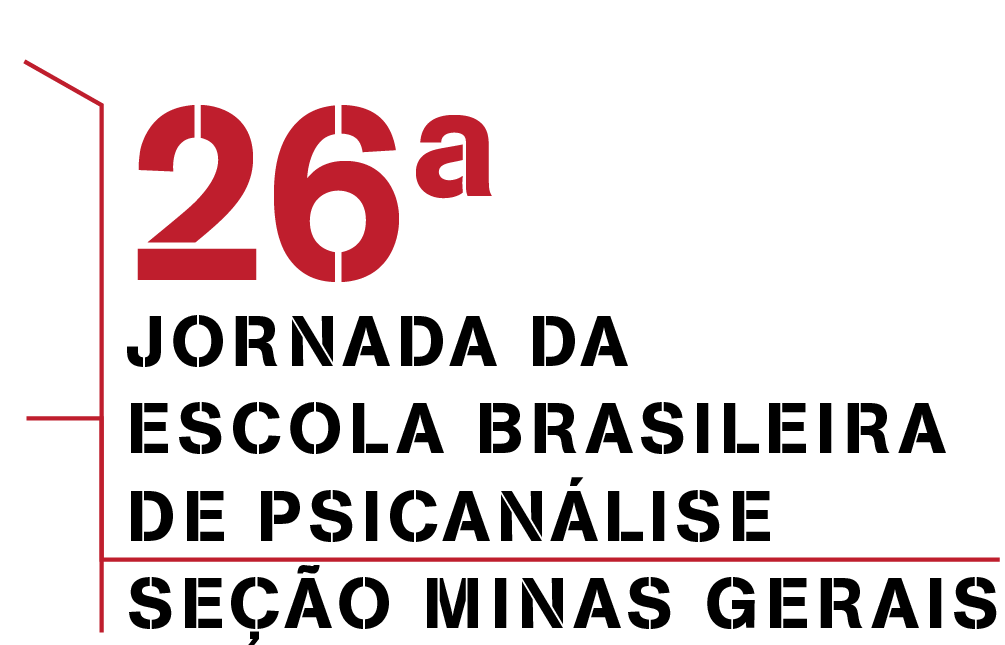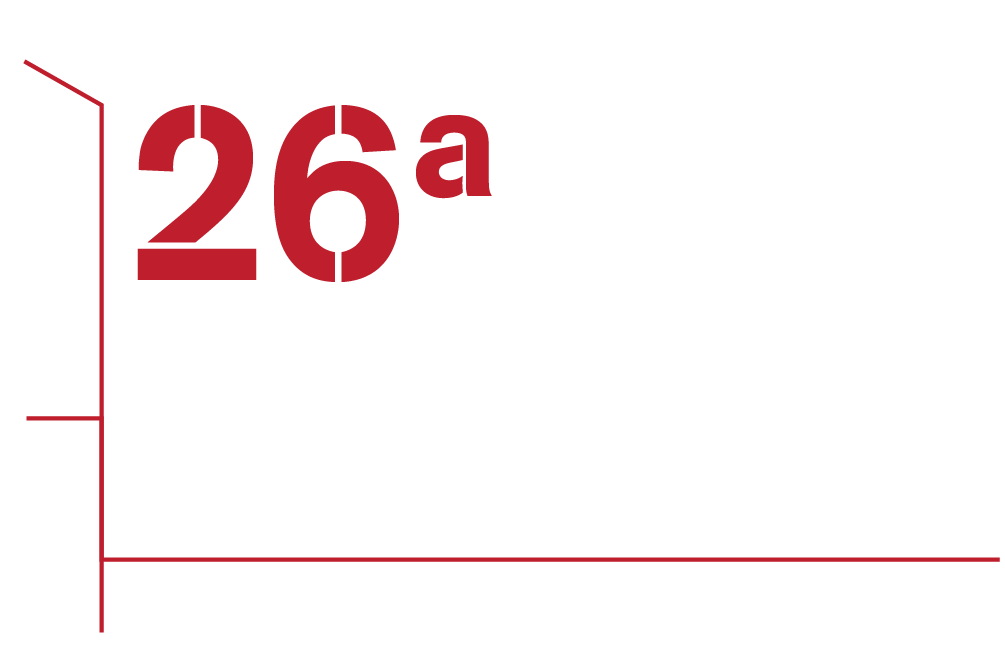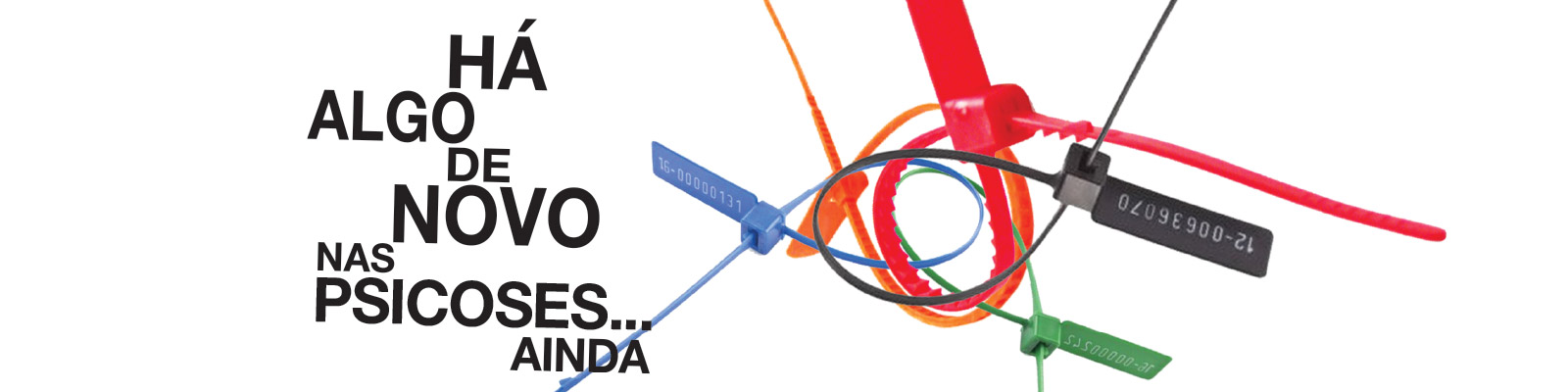Texto de orientação
Comentário sobre o Relatório “O mundo rumo à psicose”[1]
por Jésus Santiago
Quero agradecer a Fernanda Costa e a Helenice de Castro, coordenadoras das próximas Jornadas Clínicas da EBP-MG, “Há algo de novo nas psicoses… ainda”. É com grande satisfação que passo a comentar este Relatório que, além de seu conteúdo complexo, é repleto de elementos ricos e fecundos para a nossa prática clínica com as psicoses.
Sobre os novos modos de saber fazer com o corpo
A tese que, a meu ver, orientou as discussões do Cartel e do Relatório “O mundo rumo à psicose” é a seguinte: para se dar conta de algo novo nas psicoses é preciso levar às últimas consequências uma certa apreensão conceitual do mundo que somente a psicanálise pôde fazer. Em primeiro lugar, afirmar que o mundo caminha rumo à psicose supõe considerar o pressuposto de que o nosso mundo muda segundo as mudanças que têm lugar na ordem dos discursos. Em outros termos, a especificidade da conceituação do mundo que a psicanálise coloca em evidência considera, por exemplo, que o mundo regulado pela norma patriarcal se mostrou suscetível de sofrer mudanças, com consequências significativas na prática analítica. O Relatório procura responder o problema da especificidade do mundo para o discurso analítico, ao frisar que o mundo é produto de uma construção que somente se realiza e adquire forma no plano imaginário.
Chamo a atenção para o fato de que Lacan, desde o estágio do espelho, já aponta para o fato de que a imagem do corpo se constitui como o “limiar do mundo visível” e, aliás, isso se comprova na “disposição especular própria do sonho e da alucinação” (LACAN, 1949/1998, p. 98). Importante observar que, segundo esse ponto de vista, o imaginário não se restringe à relação especular do eu (a) ao pequeno outro (a’), na medida que consiste também na imagem do corpo próprio. Assim, o mundo é o que se coloca à nossa frente como imagem e, seguindo a lógica do estádio do espelho – diz o Relatório –, a imagem que fazemos do mundo se forma a partir dos mesmos elementos que constituem a “imago do corpo próprio” (LACAN, 1949/1998, p. 98).
Isso quer dizer que há um fio que liga essa tríade – corpo, imagem e mundo –, a saber, a função imaginária. Porém, para tratar aquilo que no mundo muda, faz-se necessário não apenas assumi-lo como uma construção imaginária, mas também tomá-lo como cena do mundo (LACAN, 1962-63/2005, p. 42), destacando-lhe o componente do mundo como construção, precisamente como construção da fantasia. Em suma, o mundo em Lacan é sempre uma construção disto que é um mistério para o discurso analítico, a saber, o corpo falante.
Assim, o problema com o qual o Relatório se defronta é como conceber as transformações que tiveram lugar na cena do mundo – mundo que se faz a partir da imagem do corpo – para que se possa falar de um empuxo-às-psicoses no mundo atual. A esse propósito, salienta-se que o declínio do Nome-do-Pai, por si só, não explica a conexão entre as mutações que se processam no mundo-corpo e a inevitável propensão de nossa época gerar psicoses. A leitura do Relatório me fez ver que a revelação cada vez mais pronunciada do estatuto de ficção do Nome-do-Pai já é um efeito do que se mostra decisivo para nossa compreensão do que é o mundo na acepção lacaniana, a saber, a decomposição das grandes narrativas, dos grandes relatos. Em seu texto Intuições milanesas II Miller (2011a) explica essa decomposição das grandes narrativas por meio do que o filósofo do pós-moderno Jean-François Lyotard denomina como “desestruturação dos grandes filtros de saber”, ou seja, desestruturação das metanarrativas e estereótipos que geram discursos, tradições e autoridades consagradas. Isso quer dizer que as inúmeras organizações do significante, formas diversas do discurso do mestre, que tinham o mérito de realizar uma simplificação e uma formalização da realidade, de difundir modelos de coerência, modelos de comportamentos coerentes sob a autoridade de instâncias habilitadas e reconhecidas. (MILLER, 2011a, p. 13-14)
Essa decomposição das grandes narrativas atinge não somente as diversas figuras do patriarcado, mas, também, os processos de construção de identidades que se edificam em função da diferença entre os sexos, gêneros e raças. As identificações, antes concebidas como o fator que tornavam o mundo pleno de operadores sobre o gozo, essas mesmas identificações tornam-se, hoje, frágeis, fluídas e irredutíveis umas às outras.
A consequência maior da decomposição das grandes narrativas é a fragmentação da cena do mundo – também captada Lyotard (1986, p. 28) como uma verdadeira “atomização do social” –, com o surgimento e a preponderância de um espectro amplo de identidades e mesmo de comunidades, grupos e tribos. Insisto nesse ponto do Relatório sobre a perda da harmonia do mundo ou, ainda, sobre o fato de que, diante da cena do mundo, que se fragmenta em múltiplos palcos, é a própria ciência que se revela incapaz de apresentar uma via de solução para essa desarmonia e fragmentação (FERES; SANTIAGO, 2014).
Enfim, a fragmentação da cena do mundo ocasiona a constituição de regiões restritas e especializadas de novos saberes com o corpo que se constituem como verdadeiras “bolhas de certeza” (MILLER, 2011a, p. 10). A questão que se pode formular a partir daí é se o fator da decomposição das grandes narrativas, concomitante às mutações em curso no mundo-parceiro-imagem, não geraria novas modalidades do saber fazer com o corpo. Pergunto-lhe ainda, Ram: a presença atual do mundo trans não seria uma das figuras clínicas fundamentais desse novo saber com o corpo? Com isso, quero reafirmar minha hipótese de que o saber, enquanto efeito das mudanças no mundo-corpo, se configura como a principal via de acesso à nossa investigação clínica sobre as configurações atuais das psicoses.
O que é dar consistência ao corpo?
Outro aspecto clínico de fundamental importância para a clínica das psicoses, nos dias de hoje, é a correlação que o Relatório estabelece entre a consistência do mundo e a consistência do corpo. Esse ponto pode se constituir, a meu ver, como uma valiosa ferramenta clínica, no tocante ao tratamento das chamadas psicoses ordinárias, principalmente quando se prepondera nelas a externalidade corporal. O ponto de partida dessa elaboração clínica é tomar como insuficiente a inconsistência do mundo concebida a partir do fracasso de um operador externo, que é o mito do pai e as fortes identificações daí advindas. É sabido que esse diagnóstico do mal-estar no mundo fundamenta dispositivos clínicos que se baseiam na sexuação masculina, que pressupõe a estrutura subjetiva como dotada desse elemento suplementar e antinômico à cadeia significante – o Nome-do-Pai –, que supostamente limitaria os excessos e desvarios do gozo.
Por outro lado, para se pensar na inconsistência do mundo a partir de um operador interno ao falasser, o Relatório se apoia numa fórmula presente no Curso de Miller (2013, p. 71) intitulado “O lugar e o laço”: “basta ter um corpo e, por ter um corpo, temos um mundo”. A pergunta que se pode extrair dessa formulação de que a inconsistência se trata a partir de um referente corporal – assentado na contiguidade do imaginário e do real – é se o que se instala no horizonte da prática analítica é o corpo feminino. Ou, pelo menos, aquilo que no corpo feminino se exprime como o não-todo fálico.
É patente que a orientação que se depreende dessa problematização do que é a fragmentação da cena do mundo para a subjetividade da época confere uma centralidade à questão clínica da consistência corporal. Nesse sentido, a retomada da concepção do corpo presente no último ensino de Lacan torna-se providencial, tendo em vista que tal concepção busca tratá-lo com sua devida conexão com a experiência do inconsciente. A maneira como Ram pôde ordená-la, sob o modo de três tempos distintos, pareceu-me fundamental para se captar o que vem a ser a presença do corpo no mundo rumo à psicose: Primeiro tempo, o fato de se ter, e não de se ser o corpo, é o que permite dizer que o corpo não é jamais o que se pensa, nem o que se deseja ser. Ele é uma aquisição, uma construção da qual o falasser toma posse, mantendo com esse corpo uma relação de ineliminável estranheza. Segundo tempo, é preciso considerar ainda que essa apropriação não é definitiva, pois o corpo tende a sair fora (fout le camp), tende a escapar e a vazar. Assim, o falasser é confrontado com esse vaza! do corpo, levando-se em conta que a expressão é empregada na sua forma imperativa, ou seja, quando se ordena a uma pessoa para sair rápido de onde ela está. Terceiro tempo, constata-se, em decorrência desses dois tempos anteriores, que há toda uma dimensão da clínica das psicoses que se torna – como afirma Ram no Relatório – “diferentes modos em que o falasser confere consistência a esse corpo”.
Do ponto de vista da prática analítica, interessa-nos colocar a questão sobre a nossa compreensão acerca do que vem a ser a operação desse “dar consistência ao corpo”. Não é o caso, aqui, de tratar o corpo sob o viés da normalização fálica, em que o corpo se vê munido de filtros – tanto o falo, quanto o objeto a – que funcionam como fatores de limitação do gozo em zonas delimitadas por fronteiras e capazes de fazer barreira aos excessos pulsionais. Tomar como inspiração o corpo feminino supõe considerar que o não-todo fálico não é uma norma em condições de obter uma normalização do funcionamento do corpo. O não-todo fálico orienta-se com relação ao gozo para além do Um que agrupa – via norma fálica – e, por meio da estranheza e da alteridade, configura-se nesse o corpo que tende a sair fora, e, portanto, a tornar-se Outro para ele mesmo. Se o corpo se torna Outro para si mesmo, ele se confunde com a excepcionalidade de um gozo submetido aos intervalos abertos da satisfação pulsional, satisfação marcada por limites fugidios e instáveis, na medida em que se vê envolvido por sua própria contiguidade com o real (SANTIAGO, 2020).[2]
Nesse sentido, dar consistência ao corpo é dar consistência ao que inexiste, principalmente se não se toma o corpo segundo um funcionamento ancorado numa normalidade pré-estabelecida pelo organismo. Afirmar que o imaginário é o corpo e que a consistência imaginária existe enquanto contígua ao real supõe admitir que a presença da norma fálica nele não é uma condição imperativa, ao contrário, a prática analítica visa fazer existir o corpo como contingência. Lembro-lhes, a esse respeito, a referência de Lacan (1972-73/1985) no Seminário Mais, ainda, acerca da contingência corporal.
Aprendi com o Relatório que “dar consistência ao corpo” é um capítulo-chave da clínica da invenção sinthomática, no sentido de que lidamos com ferramentas que se avizinham do impossível intrínseco ao real. Aprendi, ainda, que a nossa interrogação sobre o algo novo nas psicoses é também uma interrogação sobre o algo novo em nossa prática com as psicoses. Nesse sentido, a clínica da invenção exige uma abertura do analista ao fato de que contingência desempenha um papel crucial na experiência do falasser com o corpo. Se o gozo do corpo compatível com o não-todo fálico é sem lei, a certeza que se obtém dele está sempre condicionada pela contingência, pelo que se mostra definitivamente variável ou, ainda, resultante do que pode ser ou não ser.
Clínica do parceiro-mundo-corpo nas psicoses
Para concluir, comento a respeito de como se pode estabelecer a clínica diferencial entre a psicose e o corpo-mundo, entre uma psicose desencadeada e uma não-desencadeada. É o próprio Ram que afirma que o caso Joyce se apresenta segundo uma “direção distinta” dos casos de Schreber e Artaud. Valendo-se do argumento de que, em Joyce, o mundo ficcional de Ulisses é uma “épica do corpo” (pois, desde o momento em que o personagem Leopoldo Bloom entra em cena, cada capítulo se constrói em associação com um órgão do corpo humano), Ram precisa que essa presença do corpo não acontece como mera alusão, evocação ou mesmo como metáfora, mas como a matriz mesma da escrita, ou seja, a invenção joyceana se dá pela estrita correspondência do texto com as funções de cada um desses órgãos.
Isso é o que permite dizer que o ego de Joyce passa a existir sob a égide do escritor que faz de si um corpo, amparado não sobre a sua imagem corporal, mas sobre a sua escrita. A direção distinta nos dois outros casos se explica pelo movimento inverso à temática clínica do Relatório, ou seja, é a psicose rumo ao corpo. Ao contrário de Joyce, tanto no caso de Schreber quanto em Artaud, por haver desencadeamento, detecta-se uma decomposição do corpo – corpo fragmentado e despedaçado – e a tentativa subsequente, por meio do saber delirante, de recomposição tanto da imagem do corpo quanto da construção do corpo-mundo.
Sobre Schreber, Ram afirma que o autor das Memórias é exemplar no que vem a ser a correlação entre a psicose e o mundo-corpo. Porém, do ponto de vista da clínica da invenção sinthomática, pergunto-lhe: o que isso quer dizer? As modificações experimentadas em seu corpo como vinculadas ao que ele designa como a Ordem do Mundo, e sua absoluta convicção de que a Ordem do Mundo exigia imperiosamente a sua emasculação, querem dizer que há uma homologia entre a fragmentação do mundo e a psicose. Então, o corpo de Schreber inexiste?
Com relação a Artaud, parece que sua psicose se configura de modo distinto à psicose de Schreber, pois a sua ambição é não submeter o seu corpo-mundo ao juízo de Deus. Artaud buscará descrever o corpo que dança e levar o leitor aquém da linguagem e de sua “montanha de signos”, numa escritura de ritmos, gritos, movimentos e gestos (ARTAUD, 2019, p.124). Trata-se, para esse escritor, de escapar do corpo cadáver a fim de se reencarnar no “corpo novo” (ARTAUD, p.178) da escritura, e, assim, ele se aferra a desmembrar, desarticular, desencarnar o seu próprio corpo e o corpo da língua. Ele se proclama o insurgente do corpo e não cessa em sua obra de destruir e criar o seu corpo e o corpo da língua, de se expropriar de seu próprio corpo, com o propósito decidido se apropriar na escritura do corpo como autocriação.
Para livrar-se do corpo abjeto devotado à morte, Artaud cria a figura libertadora do “corpo-sem-órgãos” pois o órgão é visto como coisa inútil, como signo de que o homem é mal construído por Deus (ARTAUD, 2019, p. 196). Segundo a retomada que faz Deleuze do corpo-sem-órgãos, o inimigo deste é o organismo, ou seja, a organização que impõe aos órgãos um regime de totalização, de colaboração, de integração, de inibição e de disjunção”, exercendo sobre eles uma ação repulsiva, neles, próprias dos aparelhos de perseguição” (DELEUZE, 2016, p. 25). É o que permite, ao lirismo do filósofo, reafirmar a luta viva do corpo-sem-órgãos contra o organismo e contra Deus, senhor dos organismos e da organização. Assim, em “O anti-Édipo”, eles alertam que não se pode rebaixar o teor subversivo do delírio esquizofrênico à reprodução imaginária e simbólica de uma história familiar que gravita em torno do desejo como falta. Ao contrário dos grandes conjuntos paranóicos que consistem “em restaurar códigos e reinventar territorialidades”, a viagem esquizofrênica faz o movimento contrário ao “descodificar a si própria” bem como em gerar “linhas de fuga ativas” nas cenas fragmentadas do mundo (DELEUZE, 2016, p. 31-32).
Em suma, em O anti-Édipo, eles militam contra o sistema patriarcal em decadência que imaginam sustentado pela psicanálise e, por consequência, propõem uma esquizo-análise a fim de extrair as marcas e resquícios do Édipo nos corpos-máquinas. Para os autores, o Édipo, tal como ele é tratado pela psicanálise, apenas conduz e reforça os circuitos predeterminados da normalidade familial neurótica. Ambos estabelecem como ideal a esquizofrenia, que eles supõe ser um agente transformador, por ela se localizar fora dos moldes edípicos impostos neste mundo que caminha sobre o fundo de uma descodificação e desterritorialização massiva. O ponto de vista político e sexo-esquerdista de Deleuze e Guattari toma a esquizofrenia como expressão do “limite de nossa sociedade, porém um limite sempre conjurado, reprimido e execrado” ((DELEUZE, 2016, p. 32). No entanto, segundo eles, para preservar seu caráter descodificador e desterritorializador, é preciso fazer com que suas brechas e linhas de fugas não se tornem colapso, diante das exigências da ordem familial e patriarcal.
As críticas que se endereçam à psicanálise, em alguma medida, também se inspiram em O anti-Édipo e, nesse sentido, faz-se necessário retornar aos aspectos mais relevantes e ao modo como reverberam na própria psicanálise. Parece-me fundamental o emprego da clínica diferencial entre Joyce e Artaud que Ram nos propõe, tendo em vista que Miller (2011b) assinala, na Conversação sobre o sinthoma em Montpellier, que, tanto O aturdito (LACAN, 1973/2003), quanto o Seminário 23 sobre Joyce (LACAN, 1975-76/2007), constituem uma resposta contundente a O anti-Édipo. Ali onde Deleuze e Guattari tomam como exemplo a esquizofrenia embasada pela loucura de Wolfson e Artaud, Lacan se dedicará a tratar do caso Joyce. Sem jamais falar de esquizofrenia ou de psicose, interessa-lhe captar a dinâmica singular através da qual o escritor faz de sua escrita o seu sinthoma. Com Joyce, Lacan elaborará uma teoria consistente da subjetividade humana a partir do sinthoma, reduzindo o Nome-do-Pai a ser, nada mais, nada menos, do que um instrumento. Conclui-se, por essa via, que o sinthoma é a verdadeira crítica lacaniana do patriarcado.
Para finalizar, proponho uma questão: pode o corpo-sem-órgãos, considerado como fator libertador dos automatismos próprios de um corpo submetido aos desígnios do julgamento de Deus, ser tomado como uma invenção sinthomática? É bem provável que não; porém, é nítido que se pode resgatar em Artaud tanto os índices da inconsistência do corpo como sua tentativa despesperada, via o corpo-sem-órgãos, de fazer um corpo.
Referências
ARTAUD, A. Escritos de Antonin Artaud. Porto Alegre: L&PM, 2019.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O anti-Édipo. São Paulo: Editora 34, 2011. (Trabalho original publicado em 1972)
DELEUZE, G. Dois regimes de loucos. São Paulo: Editora 34, 2016. (Trabalho original publicado em 2003).
FERES, L.; SANTIAGO, J. O mundo sem operadores e a ordem de ferro no supersocial. In: SANTOS, T. C dos.; SANTIAGO, J.; MARTELLO, A. (Org.). Os corpos falantes e a normatividade do supersocial. Rio de Janeiro: Ed. Cia. De Freud, 2014.
LACAN, J. O Seminário, livro 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. (Trabalho original proferido em 1972-73).
LACAN, J. O estágio do espelho como formador da função do eu tal como nos revela a experiência psicanalítica. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. (Trabalho original publicado em 1949).
LACAN, J. O aturdito. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. (Trabalho original publicado em 1973).
LACAN, J. O Seminário, livro 10: A angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. (Trabalho original proferido em 1962-63).
LACAN, J. O Seminário, livro 23: O sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. (Trabalho original proferido em 1975-76).
LYOTARD, J.-F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.
MILLER, J.-A. Intuições milanesas II. Opção Lacaniana online nova série, ano 2, n. 6, nov. 2011a. Disponível AQUI. Acesso em: 21 jun. 2023.
MILLER, J.-A. Conversation sur le sinthome. Le Parlement de Montpellier Rencontre des Sections cliniques UFORCA, 21 e 22 de maio, 2011b. (Inédito).
MILLER, J.-A. El lugar y el lazo. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. Buenos Aires: Paidós, 2013.
SANTIAGO, J. A máquina do não-todo e as adições sem-limite. Um por Um – Boletim Eletrônico do Conselho Deliberativo da EBP, n. 404, 2020. Disponível AQUI. Acesso em: 21 jun. 2023.
[1] “O mundo rumo à psicose”: texto de Ram Mandil, relator e mais-Um do Cartel de mesmo nome composto por Ana Lydia Santiago, Bernardo Micherif, Fernanda Costa, Paula Pimenta e Renata Mendonça.
[2] Postulo, em “A máquina do não-todo e as adições sem limite” – que, na época em que a cena do mundo se fragmenta, predomina a forclusão generalizada da qual se depreende o automatismo mecânico do não-todo. Por essa razão Miller propõe tratar essa profusão do não-todo na cena do mundo sob o modo de uma máquina. Por sua vez, é desse automatismo do não-todo que se assiste à proliferação de micrototalidades em que se dá a multiplicação e o próprio investimento do falasser preso na engrenagem grupal ou comunitária. Essas micrototalidades que reproduzem esse automatismo do não-todo se definem como “bolhas de certeza”, na medida em que são nichos, abrigos, verdadeiras tribos nas quais se manifesta um certo grau de sistematicidade, estabilidade e codificação desses sujeitos na relação com o saber.