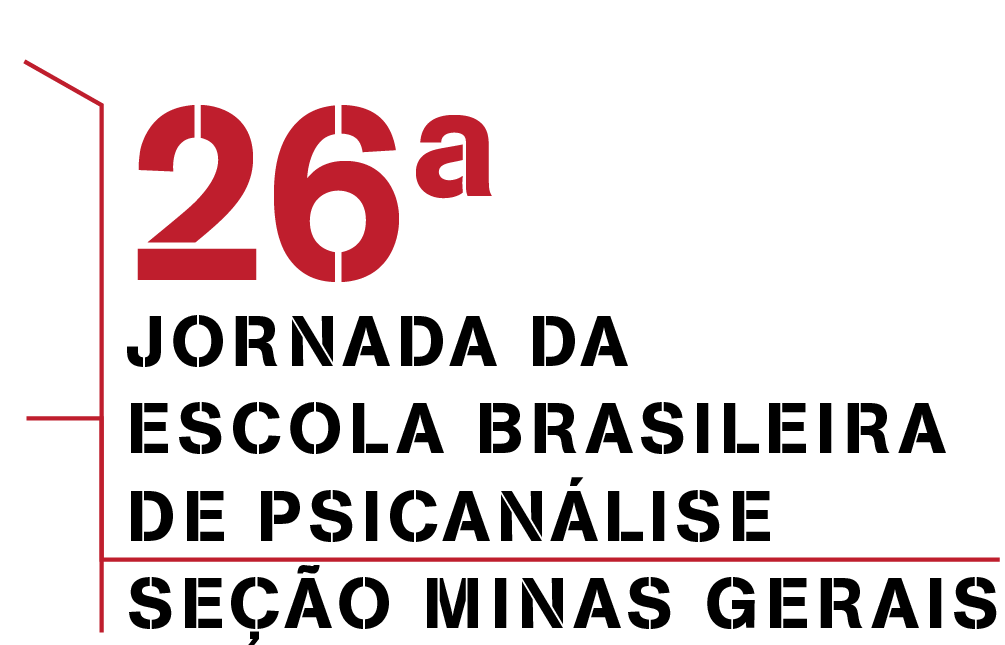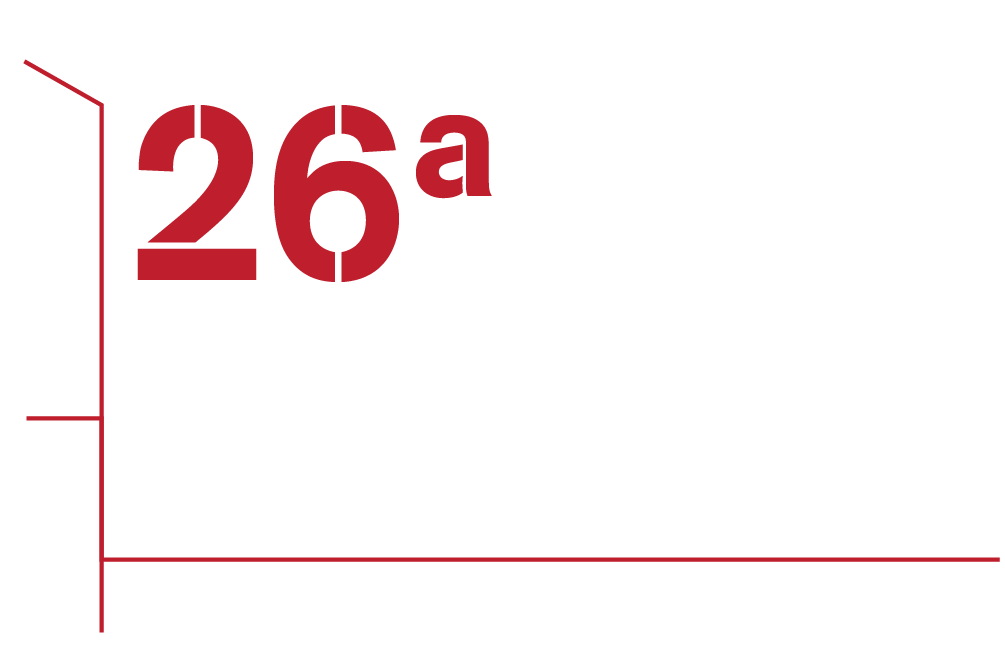Apresentamos, a seguir, as resenhas de três livros de nosso convidado da Jornada, o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues. "A Vida Futura", por Fernando Casula; "O Drible", por Miguel Antunes; e "Elza a garota", por Isabela Silveira e Letícia Mello. Boa leitura!
Resenha: “A vida futura”, de Sérgio Rodrigues
Se, com Brás Cubas, Machado de Assis inaugura um novo tempo da literatura brasileira ao dar voz a um personagem que escreve memórias após sua própria morte, Sérgio Rodrigues, não memos ousado, incorpora o espírito do imortal Joaquim Maria, não apenas como personagem principal do livro, mas em todo o seu estilo de escrita, para tecer uma crítica rigorosa e fina às novas aquisições da língua portuguesa influenciada pelas maneiras de viver na contemporaneidade.
O cenário transita entre a cidade pandêmica do Rio de Janeiro de 2020 e a fantástica nuvem na qual habitam os espíritos dos escritores considerados imortais pela academia de letras. Dessa nuvem parte a dupla de espíritos “J e J” (José de Alencar e Machado de Assis) para “puxarem o pé” da professora que se engaja no projeto de reescrita dos clássicos brasileiros com o propósito de facilitar o acesso às obras por um “público mais ampliado”, o que poderia significar uma segunda e derradeira morte dos autores, na medida em que o texto literário é modificado.
O que mais me impactou na leitura do livro foi a forma como Sérgio Rodrigues transmite, através de um estilo realçado pelo humor, a questão do campo da linguagem enquanto lugar de afirmação política e sua vinculação direta com o cotidiano da vida em sua complexidade permeada por tudo que envolve o fora de sentido do humano: desejos, gozos, paixões, violência, etc. Para tanto, nada mais apropriado do que o cenário absurdamente distópico da cidade do Rio de Janeiro em meio à pandemia de Covid 19: enquanto famílias inteiras eram dizimadas pela peste e a miséria perfila nas ruas de forma violenta, parte da população se aglomera em festas despudoradas negligenciando indicações sanitárias.
Tal como a escrita de Machado, Sergio dá voz ao seu “espírito personagem” para contextualizar, de uma forma macro, a sociedade e os lugares nos quais se estabelecem as relações interpessoais dos personagens, ao mesmo tempo em que escreve uma ficção da verdade singular a partir do fora de sentido que move cada um desses personagens. Identifico aí um ponto em que sua obra conversa com a psicanálise. Haveria uma convergência na forma como é inventada a ficção de verdade de cada personagem e a verdade psicanalítica singular tecida a partir do “Um” real?
Dessa forma, a obra não se furta ao debate político em relação às novas aquisições da língua propostas pelas pautas sociais inclusivas advindas do meio progressista – tais como a igualdade racial e de gênero e a utilização da linguagem neutra – trazendo, ao mesmo tempo, elementos que colaboram com o aprofundamento do tema, superando o discurso superficial que se limita a abordar questões relacionadas ao politicamente correto e a expressão da língua como forma de dominação.
Por tudo isso, podemos dizer que a arte de Sergio alcança um dos lugares que queremos chegar com a psicanálise!
Fernando Casula
Resenha: “O drible”, de Sérgio Rodrigues
O livro “O drible”, de Sérgio Rodrigues, surpreende não apenas pela conhecida naturalidade, fluidez e fácil trânsito do autor na língua portuguesa e “brasileira”, facilmente verificados em suas colunas regulares no jornal Folha de São Paulo, mas também pelo conjunto de temas muito bem abordados em seu livro, que se apoia no futebol para ir muito além. Podemos dizer que este faz “apenas” uma participação cenográfica neste romance. Listo alguns temas abordados no livro: jornalismo, relação pai/filho, mãe no lugar d`A mulher, mulheres no lugar de puta, suicídio, desencontros amorosos, erotismo, política, ditadura, misticismo, culminando na busca por uma análise de um dos protagonistas do romance. Cito a referida passagem: “declarou-se triplamente órfão: de mãe, de pai, de mãe outra vez (…) achou que as circunstâncias justificavam o emprego de parte da herança da mãe numa terapia consistente, sóbria, freudiana. Imaginou que Elvira (a mãe) aprovaria” (pg. 140).
Durante a leitura do livro, principalmente a partir da segunda metade, me parece que se vai evidenciando a sacada de seu título, uma vez que é exatamente o que o autor efetua nos leitores, dribles atrás de dribles, ou em uma linguagem mais contemporânea: vários “plost twists”. Da vida amorosa do personagem principal à grande promessa do futebol nacional/mundial, Peralvo, que seria melhor que Pelé. Podemos dizer que Sérgio Rodrigues nos surpreende. Não há nada de hollywoodiano neste romance-futebolístico!
Em “O drible”, Sérgio Rodrigues cita uma diferenciação forjada pelo escritor, intelectual e cineasta italiano, Pier Paolo Pasolini, entre futebol-prosa e futebol-poesia. Me parece que podemos puxar tal referência para a psicanálise e pensar que a prosa estaria no campo do dito, do sentido e das normas e a segunda caminha em direção às improvisações, invenções, a subversão dos códigos, o engano, ou seja, um savoir-y-faire. Desta forma, podemos aludir que tanto Lacan como Sérgio Rodrigues apostam que o futebol e a psicanálise serão mais cativantes e mais vivos quanto mais próximos estiverem da criação poética.
Então, este é o convite: não percam o bate-papo com o autor Sérgio Rodrigues durante nossa XXVI Jornada da EBP-MG!
Miguel Antunes
Resenha: “Elza, a garota”, de Sérgio Rodrigues
“Elza, a garota”, livro de Sérgio Rodrigues, foi uma encomenda do editor Alberto Schprejer, lançado pela Nova Editora em 2009, e reeditado em 2018 pela Companhia das letras.
A proposta de Schprejer era um livro de não ficção, uma biografia, sobre Elvira Cuppelo Calônio, conhecida pelo codinome Elza Fernandes, amante do secretário-geral do Partido Comunista do Brasil (1935), Antônio Maciel Bonfim, codinome Miranda, morta por estrangulamento em 1936, no Rio de Janeiro.
A sua história é pouco conhecida: Uma jovem menina que foi considerada traidora pelo Partido Comunista, compondo parte da história da Intentona Comunista, tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, em 1935, cujo principal líder foi Luis Carlos Prestes.
Durante a pesquisa, Sérgio Rodrigues se deparou com inúmeras lacunas: os personagens envolvidos na história já tinham morrido e as pastas nos arquivos públicos dedicadas a ela tinham sido destruídas, apagadas ao longo do tempo. A partir dos furos na história dessa moça, somente a criação de uma ficção poderia permitir a escrita do livro. Sendo assim, Sérgio Rodrigues propõe à editora um romance que é prontamente aceito. Seu livro não deixa de ser um ensaio histórico, mas com boas doses de ficção.
O romance não recobre o furo, mas é criado a partir dele. A combinação entre literatura e reportagem apresenta em seu livro uma forma estética nada convencional e surpreende o leitor.
E Elza? Para o autor, a história dela é uma lacuna que foi preservada em seu livro.
Os personagens de sua ficção, Molina, escritor e jornalista, contratado por Xerxes, antigo militante do PCB para escrever suas memórias, dentre elas sua paixão por Elza, surpreendem. As passagens de Molina apresentam aspectos históricos situados no tempo e dentro de uma estrutura ideológica, seja de esquerda ou de direita. Em determinado momento, o personagem interroga se sua função como escritor não seria semelhante a de um analista.
De maneira sagaz, Sérgio Rodrigues cria uma narrativa que desliza entre relato histórico e ficção, envolvendo o leitor e preservando o motor do processo criativo, o vazio.
Isabela Silveira e Letícia Mello
A diferença entre o ilimitado e o infinito surgiu no debate do Seminário Preparatório dedicado ao eixo temático “Diagnosticar e despatologizar”, da 26ª Jornada da EBP-MG, em relação às potencialidades da lógica do não-todo como um operador clínico nos casos de psicose. Pedimos a Antônio Teixeira, a quem agradecemos, que pudesse desenvolver um pouco mais essa distinção nesse Grampo-escrito. Boa leitura!
O ilimitado e o infinito
Contrapor, a partir de Lacan, o universo masculino na figura limitada do todo ao fora-universo da posição feminina na dimensão ilimitada do não-todo, não equivale a instaurar, conforme frequentemente se faz, uma antinomia semântica entre o finito e o infinito. O universo não é necessariamente finito e o ilimitado não é tampouco necessariamente infinito. Assim, se tomarmos o conjunto de valores possíveis para a variável x, na função 1/x, notamos que ele é infinito, mas comporta um limite: o valor x = 0, para o qual a função não é satisfeita (Lacan, L’Étourdit, Silicet, p. 15).
Esse infinito que admite um limite se deixa assim encerrar, esclarece J.-C. Milner, no “para todo” constitutivo do universo masculino nas fórmulas quânticas da sexuação. A ele corresponde, em nosso entender, o universo infinito da ciência moderna, nomeada por Descartes como “Mathesis Universalis”: tudo que existe admite uma explicação científica (para todo x ciência de x), à exceção de um x que não ciência de x: a garantia divina do saber científico (o Deus cartesiano) cuja existência não pode ser demonstrada cientificamente. Sua expressão clínica talvez se ilustre, por sua vez, na oblatividade do sujeito obsessivo cujo limite seria o enigma do desejo que ele busca evitar, ao tentar deduzir seu valor fálico como capacidade de resolução infinita das demandas que visa incessantemente prover.
Já o ilimitado, referido ao lado feminino das fórmulas quânticas, embora possa se declinar na infinitude representada pelo êxtase de Santa Tereza D’Ávila, na estátua de Bernini, não coincide necessariamente com essa dimensão. No caso, por exemplo, do jogo de damas, o conjunto de peças é finito, mas ilimitado, no sentido em que não comporta exceção: não há pião que não possa ser promovido à dama. Dali o nome do jogo, no dizer de Lacan. Conjuntos ilimitados podem, assim, ser conjuntos abertos cujos elementos são finitos, no sentido em que se deixam contar. Ao finito ilimitado, como figura literária do não-todo intuída por Flaubert, talvez corresponda o olhar no horizonte de Emma Bovary, para quem não há transgressão que faça limite à finitude desesperadora de sua existência provinciana, em seu modo de tentar converter a tensão fantasmática do desejo em exigência a qualquer preço de satisfação sexual.
Antônio Teixeira
A noção de Parafrenia tem sido destacada por vários psicanalistas do campo Freudiano como característica de nossa época. Fernando Casula, a quem agradecemos a contribuição, retoma e elucida aqui esse verbete que também foi mencionado por Helenice de Castro em nosso primeiro Seminário Preparatório da Jornada. Boa leitura!
Parafrenia
“Estou em busca de um lugar para mim. Não acho esse lugar porque não tenho lugar […] gostaria de viver suspensa como um vestido pendurado no varal […] eu sou um pouco um teatro de marionetes.”[1] Essa fala da Srta. Boyer dirigida ao Dr Lacan durante entrevista de apresentação de doentes ilustra a essência da parafrenia: sujeito em posição de puro semblante, sem lastro de real. Terminada a entrevista, Lacan comenta: “Ela não tem a menor ideia do corpo que tem que colocar naquele vestido. Não há ninguém para habitar a vestimenta.” Lacan dirá que, embora não seja sério, é uma enfermidade mental por excelência e chama isso de “parafrenia imaginativa”[2], em alusão à Kraepelin. Cabe destacar que este psiquiatra clássico empregou o termo “parafrenia” para categorizar quadros delirantes-alucinatórios – seja com manifestações exuberantes ou seja discretas – que se distinguiam das formas paranóides da esquizofrenia por não evoluirem com deterioração global da personalidade. A distinção Kraepeliniana foi bem aceita no meio psiquiátrico, inclusive por Freud, que adotou o termo parafrenia como diagnóstico no caso de Schreber[3]. Considerados os diferentes usos do termo, cabe-nos explorar um pouco mais três pistas expostas na vinheta clínica acima, características da “parafrenia imaginativa” lacaniana: 1) doença mental por excelência, 2) não ter ideia de corpo que tem e 3) posição de puro semblante.
Em “Lições sobre a apresentação de doentes”[4], Miller, considerando a apreensão do objeto (a) enquanto referência, distingue dois grupos de psicoses: a doença do Outro não barrado e a doença da mentalidade. O primeiro grupo – paranóia e esquizofrenia – ilustra a não extração do objeto (a) do campo do Outro. Temos aí um Outro invasivo e gozador, cuja inconsistência é traduzida pela confusão entre simbólico e real. São “aqueles que têm o objeto (a) à disposição no bolso”. O segundo é a doença da mentalidade – parafrenia – na qual o disfuncionamento se dá pela apreensão mental de um corpo inconsistente decorrente da não sustentação pelo objeto (a), que se encontra perdido. Lê-se aí um ser de puro semblante cujas identificações não se precipitam num ego, por não contarem com o cristalizador de Um de gozo: o objeto (a). Ao leitor interessado em aprofundar o assunto, grampeio este escrito ao texto de Helenice de Castro situado na aba “Textos de orientação” nesse site. Enfim, uma palavrinha sobre a amarração dos registros RSI no vestido em questão. O modelito da Srta. Boyle é tomado por Nieves Soria[5] como característico do nó próprio da psicose parafrênica, ou seja, lapso situado entre os registros imaginário e simbólico. Vê-se, então, o registro real se desprender do nó e o “para-ser” do sujeito flutuar em puro semblante. Na época marcada pelo uso de semblantes sem lastro de real, caberia considerar a parafrenia como paradigma da norma social?
Parafraseando Lacan, “Srta. Boyle vai se somar aos vários loucos que compõem o nosso ambiente”: um vestido flutuando contra o vento sem lenço e sem documentos… com os bolsos vazios, sem o objeto(a) à disposição!
[1] LACAN, J. Apresentação da srta. Boyer. In: MILLER, J.-A., ALBERTI, C., Redivivus. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2023. p. 155 à 179.
[2] Ibidem, p. 178.
[3] FREUD, S. (1911) Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia (1911). In: _______. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XII. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1989, p. 83.
[4] MILLER, J.-A. Lições sobre a apresentação de doentes. In: MILLER, J.-A. Matemas I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. p. 138 à 149.
[5] SORIA, N. A parafrenia: uma doença da mentalidade. In: _______.TEIXEIRA, A; ROSA, M. (org.) Psicopatologia lacaniana. Vol. 2. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020, p. 181.
Fernando Casula
O “corpo sem órgãos”, ao qual se refere o poeta e dramaturgo Antonin Artaud, seria uma invenção sintomática ou um índice da inconsistência do corpo? Essa questão, levantada na discussão que se seguiu à apresentação do relatório do Eixo 1 no segundo Seminário Preparatório para nossa Jornada, foi retomada por Musso Greco, a quem agradecemos por essa contribuição.
No Seminário Preparatório da 26ª.Jornada da EBP-MG do dia 1° de junho, O mundo rumo à psicose, Ram Mandil apresentou a produção de um cartel do qual era Mais-Um − composto por Ana Lydia Santiago, Bernardo Micherif, Fernanda Costa, Paula Pimenta e Renata Mendonça −, em que tratava a relação corpo-mundo – que se evidencia, de modo mais manifesto, nas psicoses, como atesta Schreber no capítulo XI de suas Memórias, ao descrever as modificações experimentadas em seu corpo como um desígnio imperioso da “Ordem do Mundo”, ao qual devia se submeter −, condensada nos seguintes termos por Miller, em seu curso “O lugar e o laço”: “basta ter um corpo, e por ter um corpo, temos um mundo”.
A correlação que Antonin Artaud estabelece entre seu corpo e o sonho com um mundo liberado do Juízo de Deus foi lembrada, então, como algo distinto, pois é pela ideia de um Corpo Sem Órgãos que Artaud vislumbra a possibilidade de desconexão do seu corpo com uma ordem do mundo guiada pelos julgamentos divinos, como escreve em “Para acabar com o juízo de Deus”, de 1947[1]
O homem é enfermo porque é mal construído.
É preciso desnudá-lo para raspar esse animalúnculo que o corrói mortalmente,
deus
e juntamente com Deus
os seus órgãos
Pois, amarrem-me se quiserem,
mas não existe coisa mais inútil que um órgão.
Quando tiverem
conseguido fazer um corpo sem órgãos,
então o terão libertado dos seus automatismos
e devolvido sua verdadeira liberdade.
Em se tratando do que sabemos de Artaud por seus escritos, podemos afirmar, inicialmente, uma vivência de órgãos sem corpo, que corresponde à língua articulada, na qual ele não conseguia se sustentar por não ter um corpo. Artaud descreve seu corpo como fragmentado, disperso, como peça solta, disjunta do todo, inconsistente, automático e sem unidade, com órgãos passando para fora do corpo, com vida própria e junto de um deus, cumprindo seus papéis corrosivos sozinhos. Lacan, em “O aturdito”, texto de 1972, fala do “órgão-linguagem” como algo externo e implantado no sujeito, sendo “justamente por isso que ele [sujeito] fica reduzido a descobrir que seu corpo não é sem outros órgãos, e que a função de cada um deles lhe cria problemas”[2]. O órgão-linguagem permite, assim, que o sujeito tenha acesso aos outros órgãos do corpo atribuindo-lhes uma significação, ou seja, ele é levado a pensar que este não deve ser o único órgão, que seu corpo “não é sem outros órgãos”.
O Corpo sem órgãos em Artaud é o prenúncio de um “novo corpo”, reunificado, sustentado sem o recurso a nenhum discurso estabelecido: “verão meu corpo atual/ voar em pedaços/ e se juntar/ sob dez mil aspectos/ notórios/ um novo corpo”. Na radical ausência de um corpo que se tem – “Artaud é um corpo também, / não a ideia, mas o fato do corpo, / e o fato de que o que é nada também seja o corpo”, escreve Artaud se referindo a si na terceira pessoa, como quem é um corpo −, para poder usar seu corpo e seus órgãos, ele precisou inventar um discurso, um recurso artístico que chamou de Teatro da Crueldade – cuja “linguagem objetiva e concreta” serve, segundo ele, para “cercar, encerrar órgãos” −, em busca da produção de um “eu”:
Entre o corpo e o corpo não há nada
Nada além de mim.
(…)
nem um corpo,
é o intransplantável eu.
Mas um eu,
eu não o tenho.
Eu não tenho eu, pois só há eu e ninguém,
sem reencontro possível com o outro,
esse que eu sou é sem diferenciação nem oposição possível,
é esta intrusão absoluta de meu corpo, em todo lugar.
Retomo aqui a questão levantada por Jésus Santiago no Seminário Preparatório da 26ª.Jornada da EBP-MG −“o que dizer desse Corpo sem Órgãos quando pensamos na psicose: seria uma invenção sintomática ou um índice da inconsistência do corpo?” −, para destacar o trabalho da psicose com a criação de um corpo, tomando distância desse puro pedaço de Real, numa separação dos excessos vindos do Outro da linguagem, por meio de um significante da cultura que ordene seu mundo. No caso de Artaud, tanto a escrita quanto o teatro – “cruel”, por tocar o Real −, como manifestações de uma linguagem sem representação, buscavam uma amarração, um ponto de basta, desatrelando a vida da morte, uma vez que nele os registros Real, Simbólico e Imaginário estavam desconectados, de modo que ele não conseguia apreender a sua imagem ou fixar o pensamento, não tomava a vida pela linguagem, já que esta estava, para ele, do lado da morte. Infelizmente – e o silêncio catatônico de seus últimos dias num hospício em Rodez o confirma −, malgrado seu esforço de entrada em diversos discursos artístico-político-vanguardistas e sua influência no pensamento modernista e na contracultura, Artaud não logrou, com sua invenção psicótica, enlaçamento entre registros fora do significante da cultura. Quando o Imaginário não amortece a queda do objeto, sua extração do campo do Real, e negativa a imagem, o corpo se apresenta como Artaud em Rodez: na forma de uma sombra.
[1] ARTAUD, A. Para acabar com o juízo de Deus. In: Lins, D. Artaud: O artesão do corpo sem órgãos. São Paulo, SP: Lume, 2011. (Original publicado em 1947).
[2] LACAN, J. O Aturdito. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: j. Zahar, 2003, p.
Musso Greco
Destacamos, nesse grampo-escrito, a questão formulada por nossa colega Simone Souto, por ocasião de nosso primeiro Seminário Preparatório da 26ª Jornada, que foi endereçada ao texto apresentado por Helenice de Castro. O texto de Helenice pode ser encontrado, nesse site, na aba “Textos de orientação”. Agradecemos a Simone Souto por essa instigante questão.
Em seu texto,[1] Helenice retoma a apresentação da paciente senhorita Boyer[2], feita por Lacan em 1976, demonstrando que nesse caso não encontramos, por parte da paciente, uma ideia de si como um corpo: ela se apresenta como um vestido pendurado no varal, sem nenhum corpo que possa preenchê-lo e, portanto, ela se sustenta em um puro semblante. Segundo observa Helenice, trata-se de uma imagem sem o lastro do Real, sem a presença do gozo com seus pontos opacos. Senhorita Boyer se declara “inteirinha dela mesma”, isto é, sem os furos que o gozo provoca no corpo. Logo, conforme demonstra Helenice, encontramos nesse caso uma cadeia não borromeana, na qual o registro do Real está solto, revelando que não há um grampo que o ligue aos outros dois registros, Imaginário e Simbólico. Assim, podemos concluir que, no caso da senhorita Boyer, o que sai fora é o corpo como Real.
Esse caso me remeteu a Joyce, onde também encontramos, na cena da surra, em Um Retrato do artista quando jovem, na qual seu corpo “se esvai como uma casca”[3], a desamarração de um dos registros; mas, nessa cena, o que cai fora, como sublinha Lacan, é o corpo como Imaginário e não como Real.
Como podemos pensar esses dois registros distintos do corpo? Em que essa distinção nos indicaria diferentes possibilidades de amarração, isto é, de invenção de um grampo?
[1] Helenice de Castro. Há algo de novo nas psicoses…ainda. Acesse no Site da 26a Jornada da EBP-MG
[2] LACAN, J- Apresentação da Srta. Boyer. In: MILLER, J.-A. e ALBERTI, C. Lacan redivivus (2021). Rio de Janeiro: Zahar, 2022, p. 155-179.
[3] LACAN, J. O Seminário. Livro 23: o sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 144
Simone Souto
Solicitamos a alguns colegas que nos dissessem, em poucas linhas, o que lhes inspira o título da próxima Jornada da EBP-MG, “Há algo de novo nas psicoses, ainda”. Confira, a seguir, as respostas de Sérgio de Castro, Lilany Pacheco, Virgínia Carvalho e Laura Rubião, a quem agradecemos por essa contribuição.
A discrição continua a ser, em nossos tempos, o elemento novo das psicoses. Os sintomas extraordinários, ruidosos e espetaculares, ainda que continuem a se manifestar em muitos sujeitos, não são mais o que poderíamos chamar de típicos. A partir das três conversações propostas pelo Campo Freudiano e por Jacques Alain Miller, a saber, Angers, Arcachon e Antibes, o ordinário, no sentido mesmo do despercebido e do comum, parece ganhar uma escala cada vez maior. O “precioso” e o “ainda não sabido”, poderão não ser mais detectáveis a partir apenas de uma lógica da determinação significante presente no paradigma apresentado em “A instância da letra ou a razão desde Freud”. Justamente nas chamadas desde então de psicoses ordinárias, tais detalhes discretos, solicitarão o recurso dos nós, seja nas modalidades de sua amarração como vemos no RSI, seja tomando o sinthoma como o quarto nó, como vemos a seguir em Lacan. Mas o que importa ressaltar aqui será que só a atenção cuidadosa do psicanalista advertido quanto a tais detalhes, especialmente – e essa talvez a exponencial novidade – num mundo onde o digital cada vez mais se indistingue do real, será possível dar a tais casos o encaminhamento que eles nos solicitam.
Sérgio de Castro
Na conferência “Há algo de novo nas psicoses”, em 1999, tendo como referência a foraclusão generalizada e seus efeitos em nossa prática, Eric Laurent aponta as dificuldades de a psicanálise fazer história da sua clínica dadas as diferentes orientações do que é o Inconsciente no seio da própria psicanálise. Assim, os praticantes da psicanálise se veem às voltas com as classificações contemporâneas e precisam fazer esforços para calcularem o quanto se afastam e o quanto se aproximam delas, a exemplo do fenômeno convergente: “a clínica do sujeito narcísico entregue a seu gozo” na qual localizamos as patologias do ato, a violência, as adições, a depressão, a síndrome pós-traumática, dentre outras.
Novo giro, novo campo de tensão entre as crenças e descrenças: dada à despatologização e as novas reivindicações democráticas contemporâneas de direitos iguais, seguimos na trilha de Lacan ao afirmar que o “o homem liberado”, o “da sociedade moderna”, temos que acolhê-lo para “reabrir (para ele) o caminho de seu sentido, numa fraternidade discreta em relação à qual sempre somos por demais desiguais” [1]. Assim, com base nas noções de Inconsciente real e na afirmação de Lacan – “Todo mundo é louco”, realizaremos as investigações relativas ao tema de nossas próximas Jornadas – Há algo de novo nas psicoses, ainda…
[1] Miller, J. A. Todo mundo é louco – AMP 2024. In: Opção Lacaniana nº 85, dezembro 2022.
Lilany Pacheco
“Existe neurose, hoje?”. Essa pergunta, lançada numa supervisão, tal como um chiste, foi o que ecoou em minha leitura da pergunta-tema da próxima Jornada. No século passado, convidado a pensar sobre o “há algo de novo nas psicoses?”, Laurent havia indicado que essa seria “uma questão sobre a crença nas classificações”. O que mudou? Estamos conseguindo ler melhor as externalidades da psicose nos delírios cotidianos ou o mundo está ficando cada dia mais delirante, dando lugar ordinário ao que antes era extraordinário? Será que, com as ferramentas que temos hoje, se recebêssemos um sujeito contando que, em sua cabeça, troca moedas por ratos, e de um castigo imposto por um capitão cruel, teríamos a fineza de reconhecer, por trás dessa sua maneira de ordenar o mundo, uma fantasia? O título da Jornada não deixa de me evocar também a imagem da capa do Seminário 20 e as místicas de Lacan, com seus relatos de experiências de gozo. Isso me remete à proposta de Miller de que, embora sejamos todos loucos, é importante delimitarmos as diferenças.
Virgínia Carvalho
O título da próxima jornada da EBP-MG contém a dupla face de Janus. Por um lado, indica-nos uma retroação no tempo, fazendo ressoar um momento anterior da história de nossa seção, em que nos debruçamos sobre o tema: há algo de novo na psicose. Naquela ocasião, sob a égide do conceito de Psicose Ordinária, Miller nos convidava a ler de outro modo o vasto terreno da loucura em nosso mundo. Por outro lado, ele se abre ao futuro, por meio do advérbio temporal ‘ainda’, indicando que algo subsiste e insiste, mas também se renova.
As psicoses, em nossa época, servem-nos de paradigma para pensar, sobretudo, a insistência própria ao registro pulsional, testemunha do furo constitutivo de todo falasser. Vivemos num mundo fluido, errante, desbussolado, que não se apresenta tanto mais sob a égide do recalque e evoca-nos a ampliação do campo forclusivo ou o que vem sendo nomeado de ‘forclusão generalizada’.
O que se escreve sob a forma do advérbio temporal ‘ainda’, ressoa também como um lapso translinguístico bem lacaniano: Encore (en corps). O gozo do corpo, em sua insubmissão à ordem simbólica, expõe o real a novas bricolagens a partir de um outro uso do imaginário que vai além da regressão tópica à fase do espelho. Seria a questão trans, com suas constantes mutações corporais, o que mais se destaca hoje como a eclosão do novo, não apenas no campo das psicoses, mas também no da loucura de cada um frente ao real do gozo?