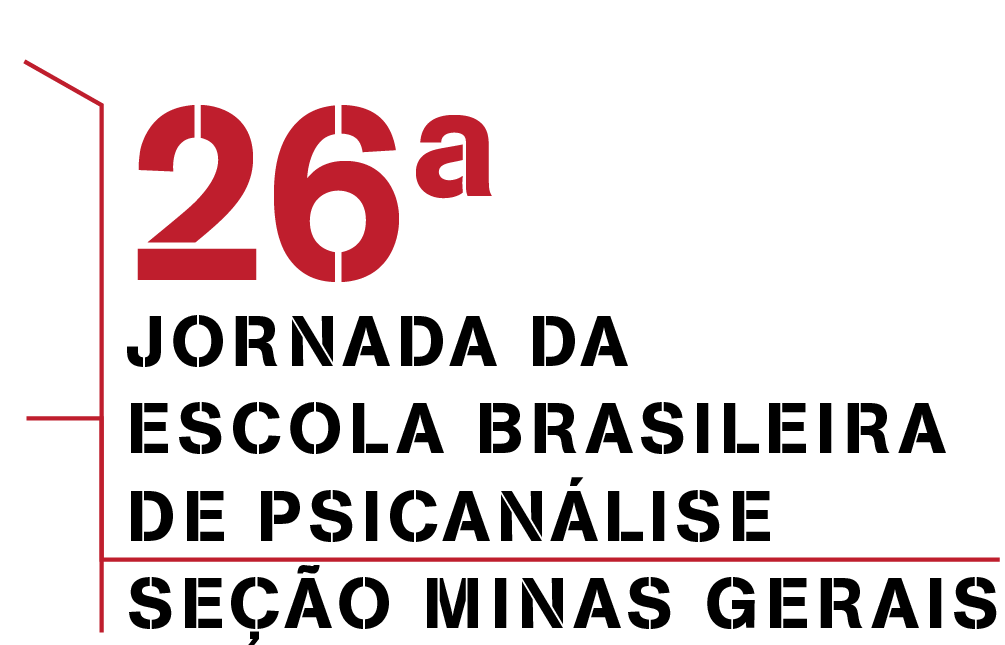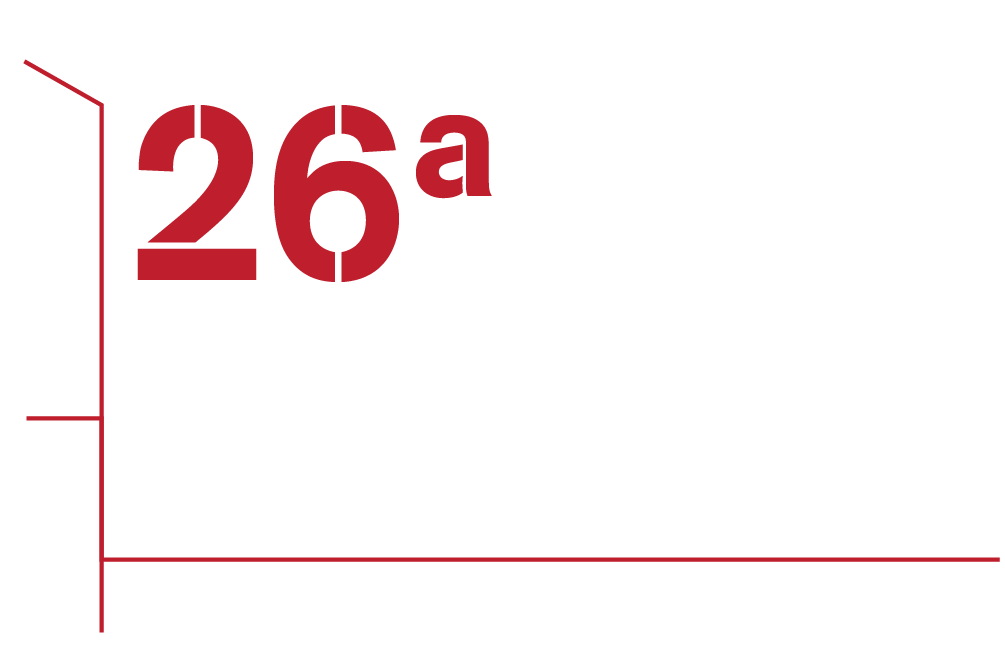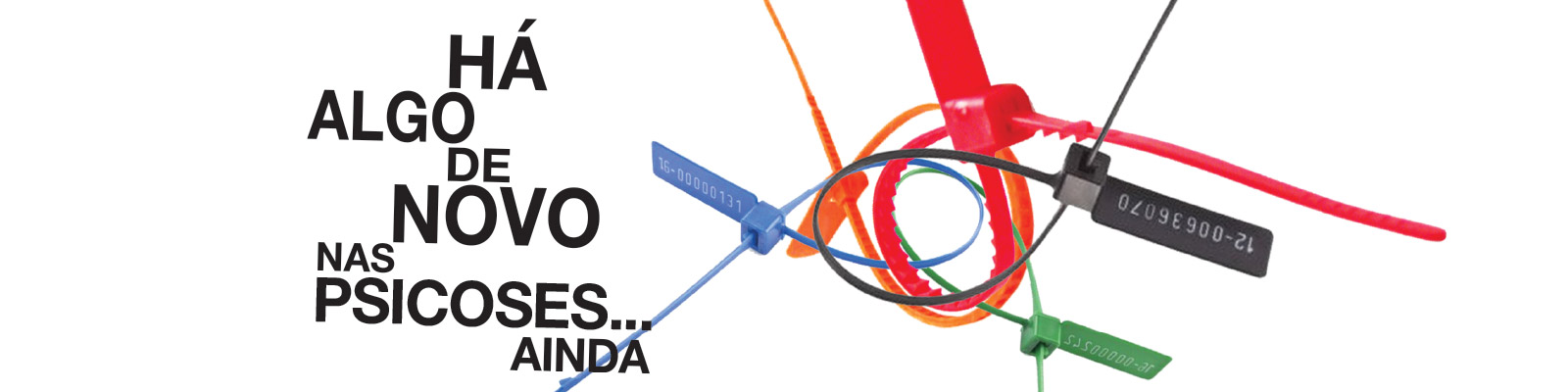Texto de orientação
EIXO 3: Comentário do relatório “As flutuações do sexo”
por Lucíola Macêdo
O relatório “As flutuações do sexo”, me remeteu à fala de Miquel Bassols por ocasião da conversação sobre o seu livro La diferencia sexual no existe en el inconsciente real[1], em sua resposta a Paul Preciado[2]: o prefixo “trans” parece estar hoje no discurso comum como uma espécie de significante mestre de nossa civilização que, esvaziado de seu sentido anterior (pois já não se trata de um significante unívoco), funciona como um polo de identificações do sujeito contemporâneo, sobretudo entre os jovens, especialmente quando, na puberdade, o sujeito se encontra com irrupções de gozo no corpo que o sobrepassam e ele não sabe como se virar com elas. Ao invés de elaborar uma pergunta sobre esse gozo, o que em alguns casos poderá se apresentar como uma saída sintomática, o significante “trans” poderá vir a suturar a divisão subjetiva, tamponando ou adiando a pergunta sobre a singularidade do gozo, como observamos no caso trabalhado no relatório.
As pontuações que farei se apoiam nos três últimos capítulos do curso de Jacques-Alain Miller de 2004/2005, Piezas Sueltas3 momento em que expõe, em diálogo com Éric Laurent e Philippe La Sagna, as suas primeiríssimas considerações sobre os Estudos de gênero. Em 2004, há quase duas décadas – diferentemente do momento atual e anteriormente ao ataque de Paul Preciado à Psicanálise – havia um frescor ao fazer-se interrogar por aquelas leituras. Laurent comentava um livro de Judith Butler, buscavam-se pontos de aproximação e, também, as diferenças entre a psicanálise e os Estudos de gênero, em certo cotejamento com princípios e fundamentos que orientam a experiência analítica. Destaco, dessa interlocução, alguns fragmentos:
1 – “… Não se pode dizer que não há relação sexual e crer que deixamos intacta a questão da identidade (…) o próprio Lacan tocou a identidade sexual ao formular que ‘A mulher não existe’. Não será que esses estudos efetuam uma segunda generalização, que estende “A mulher não existe” a todo o domínio da sexualidade? (…) A mulher não existe e o homem tampouco (…) isso é o que agregam esses discursos que só reconhecem semblantes”.[3]
2 – “Todos os usos da paternidade e todo o discurso universal retrocedem ante a relação com o corpo” (…) “Lacan situa a relação analítica num lugar muito distinto e disjunto do universal, não em relação com o acontecimento histórico, mas em relação ao acontecimento de corpo”.[4]
3 – “A psicanálise não opera no laço social, nem sequer na relação sexual, senão na relação corporal”.
4 – Há algo no gozo que não conduz forçosamente ao pior, ao ilimitado, que apresenta funções de limitação[5].
Esses fragmentos trazem uma pincelada daquilo que foi a inovação feita por Lacan quanto aos semblantes que organizam o laço social e a relação sexual, e que hoje talvez sejam mais legíveis do que na época em que foram pronunciados.
O Caso L me levou a revisitar as formulações feitas por Lacan sobre a função paterna em seu último ensino. Antes de passar às questões sobre o caso, trarei algumas coordenadas da leitura dos últimos capítulos do curso Piezas Sueltas, pois me ajudaram a pensar sobre as questões abertas pelo relatório.
Há no capítulo XVII, “Os nomes do parentesco”, um desdobramento muito instrutivo feito por Éric Laurent, que os convido a revisitar, sobre os tensionamentos entre nomeação e função simbólica, e entre nominalismo e realismo, que desembocam no que ele chama de “utopias do século XXI”[6], e também na perspectiva utilitarista dos usos dos nomes quando estes se colocam ao serviço direto de uma ação ou de um reajuste que o sujeito pretende efetuar sobre si mesmo ou sobre o corpo social, apoiando-se na falsa garantia de que os usos sociais dos nomes sejam transparentes para e por si mesmos. Existe aí uma tentativa de tornar transparente um processo que é sempre opaco, através de uma confluência entre utilitarismo e nominalismo, forjando-se como utopia de um mundo sem impossibilidades e sem resíduos.
No capítulo seguinte, o debate se estende ao que é próprio à operação analítica, àquilo que a aproxima e a diferencia da desconstrução operada pelo discurso de gênero: “a operação analítica não se centrará na relação que vocês têm com os significantes da história”. O coração da operação analítica aponta para a relação com o corpo, para os acontecimentos de corpo, que não fazem todo esse barulho, que não são conhecidos, “que são algo tão tênue como esse sentimento do deixar cair de um corpo” [7], em referência à celebre passagem de Retrato de um artista quando jovem, de James Joyce, comentada por Lacan no Seminário 23, O sinthoma. La Sagna propõe nesse momento um contraponto entre acontecimento histórico e acontecimento de corpo. Ao final do capítulo, Miller conclui com uma indicação clínica: “manter-se o mais próximo possível da relação entre o dizer e o corpo, quer dizer, do que a tradição analítica chama de pulsões (…) nesse pequeno reduto que é o da relação entre o dizer e o corpo”[8].
No último capítulo do curso Piezas Sueltas, “A relação corporal”, a partir de uma exposição de Éric Laurent sobre a sua leitura do livro de Judith Butler, Humano, inumano: o trabalho crítico das normas, encontramos um exame das declinações do Pai em Lacan. O que é a função paterna no último ensino? De um modo diferente de Gilles Deleuze e Félix Guattari em o Anti-Édipo e da perspectiva dos discursos de gênero, Lacan “desconstrói” o Édipo. Ele o faz a partir de uma lógica não-binária. O que é uma lógica binária? A lógica significante é uma lógica binária. É uma lógica que se funda a partir de um elemento que fica fora da cadeia, do “não”, ou do “anti”. A adição de elementos ao infinito não garante que se saia dessa lógica, pois continua havendo um elemento que ficará fora da cadeia e que a funda, por exemplo na sigla LGBTQI+ fica de fora o cis-hetero.
Lacan propõe, com as suas fórmulas da sexuação, uma lógica não binária, (questão trabalhada em detalhe por Bassols em sua resposta a Paul Preciado) para em seguida desconstruir a função do pai tal como definida por ele próprio em seu primeiro ensino.
Laurent esclarece, a partir do Seminário XX, mais, ainda e de “O Aturdito”, que partindo da premissa de que o Outro é inconsistente, o que Lacan designa por Nome do Pai vem assegurar uma consistência a partir de uma positividade: a significação fálica, isolada como uma significação central. A função paterna, nesse contexto, é o que permite inscrever a inexistência da relação sexual e generalizar a castração para todo ser falante. Como consequência, o analista é deslocado do lugar central do Nome do Pai, passando a situar-se no lugar de S(A/), ou seja, do lado da inconsistência. O sujeito é aquele que não pode chegar a nomear-se, o lugar da variedade dos modos contingentes através dos quais se inscrevem para ele as suas marcas de gozo.
Com as funções lógicas da sexuação, Lacan reformula a metáfora paterna: o pai já não é o fiador da consistência do Outro, mas um operador que permite nomear a função da não relação sexual. O pai advém como uma função de nomeação. Uma função que permite nomear a não-relação significante entre os sexos.
O fato de que não haja relação não impede que essa função tenha um limite: há um impossível, que pode ser abordado a partir do assemântico, pela via da postulação de que não é possível definir uma semântica da relação sexual, ou ainda, dizendo de outro modo, nesse campo não é possível ordenar de maneira estável as relações entre significante e significado, ao mesmo tempo em que generaliza a castração com o seu “não há”. Aqui encontramos toda a amplitude e pertinência que as declinações da função paterna no último ensino aportam à clínica quanto ao que poderá operar como limite.
O impossível, o limite, podem ser abordados a partir da dimensão do escrito e da leitura como efeitos de discurso, e por isso mesmo necessitam da convenção, seja ela qual for, para situar o ponto de vista a partir do qual se lê.
Do pai retém-se o elemento que é investido de um gozo particular, que faz sintoma. A função paterna aqui comparece como contingência e/ou como S1.
A função paterna advém, portanto, como a função que sustenta e nomeia a inscrição da não relação em suas diferentes manifestações.
O ponto nevrálgico de articulação com o tema da Jornada, e também da leitura do “caso L”, é que Lacan postula, com a pluralização dos Nomes-do-Pai, que a contingência faz com que tal função possa ser sustentada por qualquer um, inclusive por um analista. Essa é a tese tributária da assertiva “Todo mundo é louco, ou seja, delirante”. Aqui já não estamos diante do declínio da função paterna, e sim “do aspecto psicotizante da função paterna no mundo do Outro que não existe”[9]e dos fenômenos decorrentes de sua pluralização ou, ainda, de sua “evaporação”, que é diferente de uma desaparição.
Já não se trata do pai que domina o gozo ou dele se excetua, ou seja, do pai do domínio ou da exceção. A partir do pai como inscrição de um S1, é possível lero modo como o gozo foi capturado na experiência singular de cada um. Dado que há um limite para a extensão da função paterna, o que daí se deduz não é um êxtase generalizado e infinito, mas uma possibilidade de leitura, a chance de conferir alguma legibilidade à particularidade do gozo, o que no caso trabalhado pelo relatório se esboça através do trabalho significante e o que dele se isola a partir da localização e formulação das coordenadas da pulsão de morte em uma paixão até então ignorada, não nomeada, a paixão da violência, ocultada sob o trans, o que a partir do trabalho analítico se revela pela via do sonho, fazendo-se também desenho e escrita: Nell –L – Elle (ela) – Li , ou seja, nessa passagem ao ato da carta (mas não qualquer uma, pois não é uma passagem ao ato no corpo, como seria o caso de uma hormonização desassistida). A carta vem no lugar da passagem ao ato da transição. O saldo clínico desse trabalho é a troca de um ponto de certeza por um ponto de suspensão (nem, nem), um adiamento, que é a mesma coisa que um ponto de indeterminação. Um adiamento para que se localizem e se esclareçam as coordenadas subjetivas e os pontos de coalescência entre a realidade sexual e a linguagem. O imediatismo cede à perlaboração. “L” faz um caminho que vai da certeza à suspensão, que talvez seja um passo antes da equivocação, de um consentimento ao equívoco, o que não parece de todo improvável se considerarmos os efeitos do trabalho analítico nesse ano e meio de tratamento.
Chegando a esse ponto, pergunta-se: Por que a desconstrução precisa do real? O real advém como um ponto de limitação (no sentido de que há algo no próprio gozo que apresenta funções de limitação) obstando o deslizamento metonímico em sua tendência à infinitização. Este é um dos pontos de divergência entre a desconstrução e a psicanálise.
Os estudos de gênero postulam o sujeito como puro processo, daí o recurso às identificações múltiplas e complexas que coexistem no pré-edípico, cuja finalidade seria a de obter um processo de gozo não categorizável e ilimitado, onde se nota certa depreciação do amor e enaltecimento do gozo. Onde a desconstrução propõe um tratamento pela metonímia para obter como resultado um sujeito não identificado, disponível, advertido de sua diferença com relação aos nomes, a psicanálise de orientação lacaniana aponta a uma inflexão entre a teoria pura e a psicanálise como uma teoria da prática. Não encontramos, no nível da experiência, essa extraordinária liberdade a que os discursos unicamente teóricos convidam. As teorias de gênero parecem resultar ao mesmo tempo em uma crítica a toda norma e na defesa a ferro e fogo de uma norma ilimitante, cuja ambição política seria a de fundar um laço social que não se baseasse em uma política da identidade (sexual), mas cujo efeito paradoxal parece caminhar na direção de uma multiplicação infinita de categorias.
À desconstrução e à metonímia objeta-se uma consistência. Como analogia, propõe-se a consistência mínima do elemento corda como uma espécie de Um, diferente em sua natureza do S1 mutante e variável. O Um do elemento corda é resultado de um fazer, de uma fabricação, de um artifício, cuja consistência única é o corpo, a relação que o parlêtre (falasser) mantém com seu corpo, e não apenas o sujeito do significante. No “realismo radical da relação corporal”[10], onde o acento é posto na instância da vida, na vida como transitória, na vida do corpo que se consome, Lacan “capta por diferentes ângulos a relação que o parlêtre (falasser) mantém, não com o significante, mas com o seu corpo. A relação cuja inexistência no nível sexual Lacan formulou, reaparece em nível corporal”[11], pela via de uma adoração do corpo próprio, como uma forma de amor primário, não ao Outro, mas a si mesmo; esse amor ao corpo próprio ele o designa como mentalidade, ele a diferencia do pensamento; a mentalidade está unida ao corpo próprio enquanto o pensamento introduz a adoração de outro corpo.
Considerando o exposto, pergunto:
Qual é o estatuto do “Li”?
Levando-se em conta que se trata de uma jovem de 14 anos, o que requer cautela quanto às conclusões: posição subjetiva e posição de gozo seriam de uma vez por todas excludentes?
Ao ler o caso e a discussão que a ele se seguiu à luz das declinações da função paterna no último ensino de Lacan me parece que seria possível apostar que no percurso feito por “L” algo possa ter se inscrito no sentido de armar um corpo, ao menos provisoriamente.
[1] Bassols, M. La diferencia sexual no existe en el inconsciente real. Buenos Aires: Gramma, 2021.
[2] Em resposta à fala de Paul Preciado como convidado na Jornada da Escola da Causa Freudiana em novembro de 2019. Preciado, P. Eu sou o monstro que vos fala: relatório para uma academia de psicanalistas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2022.
[3] Ibidem, p. 414.
[4] Ibidem, p. 389.
[5] Ibidem, p. 412.
[6] Ibidem, p. 368.
[7] Ibidem, p. 394.
[8] Ibidem, p. 398.
[9] Ibidem, p.407.
[10] Ibidem, p. 418.
[11] Ibidem, p. 417.